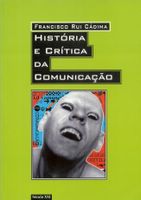Elogio e elegia do jornalismo
Num período em que precisamente a escrita se completa, é interessante verificar que as formas embrionárias então emergentes que poderemos associar ao 'jornalismo' - tal como veio a ser conhecido na idade clássica -, existiram sobre suportes tão simples como os citados.
Dos gregos sabe-se que tinham um género de almanaques, como encontramos nos finais do século XV em França, com informação diversa sobre astrologia, curiosidades, etc. Chamavam-se então "efemérides", mas não eram mais do que «jornais» históricos, análogos aos anais dos pontífices romanos.
Roma vem a conhecer, com o advento da República, em 509, as Acta Publica, que aparecem depois das "tábuas brancas" - os Album -, afixadas nas paredes do palácio do Pontífice e depois também nas principais zonas da cidade onde eram, por exemplo, referenciadas as sessões do Senado.
No final da República, mas ainda com Júlio César, aparecem as Acta Diurna, verdadeiras folhas de notícias e ecos da vida romana, recopiadas depois por oficinas especializadas e divulgadas principalmente no seio das camadas mais privilegiadas. Os actuarii, que redigiam e reproduziam essas informações, da necrologia aos incêndios, das execuções à sexualidade, eram, por assim dizer, autênticos "noticiaristas".
As actas circularão, a partir de Augusto, no Século I a. C. por todo o Império. É através da informação que circula pelas zonas colonizadas que o poder se afirma. Da mesma forma é com a supressão da informação (entre outras causas, nomeadamente no plano da organização militar), que o Império entra em declíneo 1.
Na literatura clássica que nos chegou da Roma Imperial encontram-se diversíssimas referências às Actas, à sua circulação por cópias e inclusive às leituras públicas que delas se faziam 'ao fim da tarde no lago Curtius'.
Plínio leu nelas o afogamento de um cão no Tibre, por não abandonar o corpo do dono. Plínio, o Moço, pedia a um amigo que lhe mandasse cópias das Actas da cidade. Séneca deplorava o facto de as mulheres 'ostentarem os seus divórcios nessas folhas linguarudas'. Tibério, mandava inserir nos diários tudo o que se dissesse dele para se vingar depois, segundo rezam as crónicas.
Mas, no fundo, as actas foram um verdadeiro instrumento de poder dos imperadores romanos, e apesar da sua utilidade e da sua divulgação em Roma, nem sempre eram aceites de ânimo leve, nomeadamente por filósofos e escritores. Tácito, por exemplo, observou nos seus Anais: «(...) Mas é da dignidade do povo não entrarem na sua história senão os feitos ilustres, bastando aos insignificantes os diários da cidade» 2 .
Da cultura oral ficaram-nos sobretudo os Poemas Homéricos. Sabemos que apesar das sucessivas "reconstruções generativas" - do Século XX ao século XII a.C., os Poemas fornecem-nos informações mediadas, quer de Micenas e dos Minóicos, quer mesmo das invasões dóricas. A historicidade da Guerra de Tróia é aqui também verosímil, na Ilíada, ao tempo do "jovem" Homero, sendo as aventuras de Ulisses relatadas na Odisseia. Para Aristóteles, por exemplo, nos Poemas estava já o embrião da tragédia. Para outros, foram mesmo uma verdadeira enciclopédia do mundo antigo, ou um manual de filosofia. «A sua influência sobre toda a cultura grega, donde passa à latina, e desta a todas as culturas ocidentais dela derivadas, é um facto que não é de mais sublinhar. (...) São, por exemplo, o modelo, directo ou indirecto, de toda a poesia épica subsequente e influem consideravelmente na lírica (...)» 3 . Já na cultura alfabética, veja-se o exemplo das Histórias de Heródoto, o "pai da história". Assim começa a sua narrativa do século V a.C. : «Eis a exposição do inquérito empreendido por Heródoto de Tourioi, para impedir que as acções cometidas pelos homens se apaguem da memória com o tempo, e que grandes e admiráveis feitos, levados a cabo tanto do lado dos Gregos, como do lado dos bárbaros, cessem de ser nomeados». De qualquer modo, a notícia, na Antiguidade clássica era de facto má conselheira. E não só as más notícias o eram, como vimos.
A mesma crítica face à notícia vem a verificar-se já na Idade Média. Com o final do Império Romano e o progressivo alargamento do poder bárbaro às regiões anteriormente dominadas por Roma, a cultura e a informação ficam de alguma forma reduzidas às obras copiadas pelos monges beneditinos a partir de alguns textos fundamentais da cultura clássica e da Bíblia. A Igreja passa a ser como que a continuadora administrativa do que ficou do Império. Os dialectos locais e o vernáculo tendem a ocupar o lugar dos latinismos. A língua literária medieval acaba por ser uma mise-en-forme do idioma vernáculo. E da mesma forma que o contacto entre senhorios feudais e trocas comerciais se tornam difíceis por essa altura, também a notícia, e a circulação da informação o são.
É pois um período de recuperação dos textos antigos e em simultâneo do aparecimento de uma literatura popular e de uma épica medieval com a particularidade de reatarem a tradição oral outrora aparentemente abandonada. De facto, quer as cantigas de gesta, quer as cantigas de amigo, ou as cantigas de escárnio e mal dizer, quer ainda os versos de jogral, não são mais senão o sintoma de uma regressão ao que havia sido conhecido dos aedos da Antiguidade clássica. É através deles que a notícia volta a correr. Veja-se, por exemplo, Menéndez Pidal: «As viagens e as grandes reuniões de jograis cumpriam na Idade Média a função de divulgar a música e a literatura em países muito diversos, substituindo de certo modo os meios modernos de que mais tarde veio a dispor a imprensa». Rodrigues Lapa chega mesmo a considerar o jogral como aquele que faz a reportagem do acontecimento mais ou menos escandaloso da época.
Desde o século XIV que a notícia se torna um verdadeiro comércio. Os nouvellistes começaram por ser uma espécie de 'escribas' dos príncipes e mercadores da época, organizando, por exemplo, serviços regulares de correspondência manuscrita - em Londres chamavam-se writers of letters -, mas é sobretudo como redactores das primeiras folhas volantes, das 'relações', dos canards, etc., que se notabilizam. Emerge assim um jornalismo pré-tipográfico.
A 'publicidade' da notícia manuscrita e impressa, isto é, a sua circulação pública, acompanha, portanto, toda essa evolução económica e social da Europa pré-gutenberguiana. Tratava-se, em todo o caso, de matérias do âmbito do fait-divers. Na sua obra L'Information en France avant le périodique, J-P Séguin elabora uma breve estatística sobre as temáticas focadas nos canards franceses do século XVI, descritos na sua bibliografia. Assim, 109 relatam questões criminais, 116 calamidades diversas, 95 fenómenos celestes e 180 factos mais ou menos "maravilhosos". Séguin alerta no entanto para o facto de estes números não corresponderem exactamente à verdade, uma vez que não existem separações bem nítidas entre as diferentes categorias. Sob o ponto de vista da verosimilhança das narrativas há, claro, que reter o facto de o real e o fantástico aí se interpenetrarem nas mais diversas proporções, muito embora os títulos de muitas dessas narrativas serem do género "discours très véritable", "histoire véritable", etc. Em inúmeras passagens os autores chegam a afirmar que dizem a verdade porque eles próprios foram testemunhas.
Em 1631, Théophrast Renaudot, observava: «L'histoire est le récit de ce qui est advenu. La gazette est le bruit qui en court». Ele, que havia lançado a Gazette de France, manteve sempre a gazeta francesa como um prolongamento do poder, aliás, tanto Richelieu como Luís XII estiveram entre os seus principais colaboradores, ainda que muitas das vezes dissimulados,
Mas o que é facto é que o 'ruído' a que se refere Renaudot deixa de ser demasiado frívolo a partir do momento em que grandes nomes da literatura chegam também aos jornais e à sua crítica - recorde-se, por exemplo em França, Marivaux, Prévost, recordem-se também as referências de Diderot, de Beaumarchais, ou mesmo de Voltaire - que foi para muitos uma verdadeira 'agência de notícias' -, muito embora ele próprio também fosse um crítico feroz das técnicas do saber prático... Beaumarchais, aliás, tem uma passagem clássica, nas Bodas de Fígaro (1784), a favor da liberdade de imprensa e contra as censuras: «Pourvu que je ne parle dans mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'Opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui tienne à quelque chose, je puis tout imprimer librement sans l'inspection de deux ou trois censeurs. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique et croyant n'aller sur les brisées de personne, je l'appelle le journal inutile. Pou-ou! Je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille; on me supprime et me voilà derechef sans emploi»... Recordem-se também os Carnets d'Enquêtes de Émile Zola, verdadeiras reportagens inéditas sobre o quotidiano francês de finais do século passado, que viriam a ser a base de muitos do seus grandes romances.4 Recordem-se, no Reino Unido, Steele, Addison, Pepys, etc.5
De facto, na Europa, o grande século do jornalismo é, porventura, o século XVII, altura em que predomina um "jornalismo de escritores", ou "jornalismo de opinião", eminentemente ligados à emergência de uma opinião pública activa, que seria determinante da consecução das revoluções liberais europeias. A importância da imprensa na vida cultural e política pré-revolucionária e pré-constitucional da Europa é assim inegável. Mesmo assim, há que ter a noção de que os periódicos eram órgãos informativos de segunda ordem, como o lembra Jurgen Habermas, enquanto que a carta era ainda geralmente considerada no século XVII como a fonte da notícia mais segura e mais rápida. O facto de as primeiras Gazetas estarem associadas de forma muito estreita ao poder central do monarca e à censura, mantinha a credibilidade das gazetas manuscritas, das "cartas de notícias" e das "epístolas".
A progressiva desagregação do Antigo Regime na Europa é pois contemporânea da emergência do parlamentarismo constitucionalista na Inglaterra do século XVII e de um amplo movimento de renovação liberal, que se desenvolve em todo o continente europeu a partir do século XVIII. Veja-se o caso da França. Desde a Revolução Francesa até ao final do século XVIII (quando começaram a surgir problemas de censura, primeiro com o Diretório e depois com Napoleão), entre folhas revolucionárias e contra-revolucionárias contavam-se muitas centenas de títulos, um número incomensuravelmente superior ao total surgido nos 150 anos anteriores, isto é, desde o aparecimento das primeiras folhas. «Los periódicos pasaron de ser meros lugares de publicación de noticias a ser también portadores y guías de la opinión pública, medios de lucha de la política partidista. Lo que acarreó la seguiente consequencia por lo que a la organización interna de la empresa periodística hace: la inserción de una nueva instancia entre la colección de noticias y su publicación: la redacción. Pero para el editor esto significaba que pasaba de ser un vendedor de noticias frescas a un comerciante de opinión pública» 6 . Essa mutação, no entanto, vai iniciar-se exactamente com o chamado jornalismo de escritores, ou de opinião, e não propriamente com a constituição e autonomização de uma redacção no sentido clássico. Mas se a imprensa de opinião do século XVIII é panfletária e por isso mesmo recolheu a simpatia da esfera pública crítica, a verdade é que das Gazetas à organização industrial da imprensa há toda uma arqueologia da crítica do jornalismo a fazer.
Críticas à imprensa são frequentes, portanto, em muitos autores, e nomeadamente na área da filosofia. Aqui, poder-se-iam destacar os nomes de Nietzsche, de Kirkegaard, de Herman Hesse, de Karl Kraus, de Deleuze, de Lyotard, etc.
O jornalista, mesmo nos finais do século XVIII, é ainda considerado por iluministas e enciclopedistas como um personagem desprezível em comparação com o escritor ou ensaísta. Veja-se, por exemplo Rousseau, em 1755 : «Qu'est-ce qu'un livre périodique? Un ouvrage éphémère sans mérite et sans utilité dont la lecture négligé et méprisée des gens lettrés ne sert qu'a donner aux femmes et aux sots de la vanité sans instruction».
O próprio Voltaire acaba por considerar que as gazetas não eram senão "le récit de bagatelles" e Diderot escreve na Encyclopédea: «Tous ses papiers son la pâture des ignorans, la ressource de ceux qui veulent parler et juger sans lire, le fléau et le dégoût de ceux qui travaillent. Ils n'ont jamais fait produire une bonne ligne à un bon esprit, ni empêché un mauvais auteur de faire un mauvais ouvrage» 7 .
Por outro lado, no Reino Unido, todo o período anterior à Revolução de 1688/89 - que introduz, como se disse, o liberalismo político em oposição ao absolutismo de Cromwell -, foi extremamente severo em termos de controlo da imprensa. Veja-se por exemplo o Aeropagitica de Milton, autêntico libelo pelo parlamentarismo e pela liberdade de imprensa. Quando surge o Daily Courant, o primeiro diário, em 1702, já se vive um clima de maior liberdade, nessa altura ainda raro na Europa. Seria necessário esperar quase um século para que novos ventos da liberdade, com o célebre artigo 11 da Declaração dos Direitos do Homem, concedessem à imprensa, verdadeiramente, o atributo de "quarto poder".
Precisamente num texto com o título "Críticas a la prensa en Nietzsche, Kierkegaard e Hermann Hesse", Vintila Horia 8 começa por considerar a imprensa como uma arma de dois gumes - um "meio de comunicação" e um "meio preciso e eficaz de corrupção e causa directa da decadência".
Horia refere-se depois às primeiras conferências de Nietzsche na Universidade de Basileia, em 1872, e às suas críticas à corruptela da própria língua por parte dos jornalistas: «Se não chegarem a sentir uma náusea física ante certos termos e palavras a que nos habituaram os jornalistas, deixai de aspirar à cultura». E na A Origem da Tragédia «(...) o jornalista, esse escravo do papel diário, conseguiu alcançar vitória sobre os mestres mais eminentes no que diz respeito à cultura do espírito; e se a estes não resta outro recurso além do sofrer a metamorfose já observada, assumir a atitude e as maneiras do jornalista, imitar a 'elegância do fácil', que é própria daquele mister, e aparecer aos olhos de todos como uma borboleta intelectual (...)».
Também Hesse, fala das "páginas de variedades" e do consumo de vulgaridades e curiosidades sem nenhum valor (no que faz lembrar Baudrillard), que, vistas de forma premonitória, anteciparão a catástrofe descrita no seu mundo ficcional expressionista.
Mas um dos mais violentos críticos do jornalismo na sua "descida aos infernos para julgar os vivos e os mortos", na expressão de Oskar Kokoschka, foi o austríaco Karl Kraus, críticas bem expressas aliás, na pequena antologia "Presença de Karl Kraus contra o jornalismo" 9 .
Karl Kraus, é, aliás, o paradigma do 'jornalista escritor' já fora de época. Ele representa um jornalismo de opinião radicalizado na Viena de final de século. Ao longo de 40 anos, é ele que redige praticamente sozinho uma revista periódica - Die Fackel. As suas críticas venenosas ao sistema acabaram por mantê-lo à margem dos grandes movimentos artísticos e culturais desse período em Viena. A própria imprensa, que no princípio do século deixa de se lhe referir, submetendo-o a uma espécie de morte intelectual, será sempre um tema regular nas suas críticas. Em 1934, após Hitler tomar o poder, Kraus dirá, quase como síntese do seu pensamento: «Não foi o nacional-socialismo que aniquilou a imprensa, foi a imprensa que criou o nacional-socialismo». Num seu texto de 1908 - "Elogio de um modo de vida às avessas" - escreve: «Chega-me, de longe, um som como o do ruído das máquinas impressoras; é a estupidez que ressona. Espreito-a, furtivamente, colhendo ainda algum prazer das minhas pérfidas intenções. E quando o primeiro jornal de manhã surge no horizonte leste da civilização, deito-me... Tais são algumas das vantagens de um modo de vida às avessas». Walter Benjamin também se refere ao "ódio" que Kraus votou aos jornalistas: «Foi ele - Kraus -, em resumo, quem concentrou todas as energias na luta contra a fraseologia, que é a expressão linguística do arbítrio com que, no jornalismo, a actualidade se apropria do domínio sobre as coisas» 10 .
Hoje, reflectir sobre a história e a crítica do jornalismo releva desde logo do questionamento de campo jornalístico, e do "saber fazer" dos técnicos de saber prático, como Sartre chamava aos jornalistas. Qual, no fundo, a legitimação de uma prática, quando ela procede, de forma recorrente, à auto-exclusão de uma hipotética referencialidade ao real pela incontornável assunção das figuras do esquecimento, da narratividade e da ficcionalidade ?
A distanciação da prática jornalística torna-se inevitável para dessacralizar a especificidade de um fenómeno relativamente novo - se pensarmos na fase da organização industrial da imprensa, desde os anos 30 do século XIX. Pode dizer-se que em relação ao texto histórico, à epopeia, à autobiografia, por exemplo, esse trabalho crítico foi concretizado (vide Temps et Récit, de Paul Ricoeur, por exemplo). Mas em relação à produção jornalística existe uma espécie de censura que leva a não ser reconhecido que as novas e velhas representações mediáticas do acontecimento e do quotidiano, não fazem mais do que fantasmar e dissimular o real latente, os diferendos e a virtude civil, em troca por um real manifesto e pelas manifestações de superfície de uma realidade construída.
Seguindo a asserção de Ricoeur - «o fim da dicotomia narrativa de ficção/narrativa histórica e a existência de uma identidade estrutural entre as narrativas que têm uma pretensão à verdade e as que a não têm» -, jornalismo é, portanto, narratividade, e, nessa medida, coexiste em unidade funcional com os múltiplos modos e géneros narrativos. A questão é que, como referia Foucault, a história, o discurso, (o jornalismo, dir-se-ia) é uma representação das relações de forças e de poder de um tempo, de uma época.
Na excelente antologia organizada por Nelson Traquina 11 e editada em Portugal, a dicotomia entre os dois âmbitos discursivos pode ser equacionada através do texto de Philip Schlesinger: «A notícia, tal como surge diariamente, e como é concebida, está em oposição radical à história. De facto, o sistema de ciclos diários ao longo do dia noticioso tende para a abolição da consciência histórica, criando uma perpétua série de 'primeiros planos', em preterição do aprofundamento e do background» (p. 189) . O paradigma das notícias como narrativas que reproduzem uma hegemonia, e as práticas de normalização do discurso jornalístico, emergem então como instrumento de poder que corrompe esse "fazer". E o que fica é a massa documental na qual se joga o poder de perpetuação das sociedades históricas e da política do tempo.
Este último aspecto, é recorrente ao longo da antologia. A questão de «gerir as notícias como elemento essencial da luta simbólica» é um dos pólos de reflexão e de crítica. Michael Schudson: «Eu sugiro que o poder dos media está não apenas (e nem sequer primariamente) no seu poder de declarar as coisas como sendo verdadeiras, mas no seu poder de fornecer as formas através das quais as declarações aparecem. As notícias num jornal ou na televisão têm uma relação com o 'mundo real', não só no conteúdo mas na forma; isto é, no modo como o mundo é incorporado em convenções narrativas inquestionáveis» (p. 279). Nelson Traquina, no entanto, sublinha: «A conclusão geral das duas teorias é que a conexão entre fontes e jornalistas faz das notícias uma ferramenta importante do governo e das autoridades estabelecidas e que as notícias, em geral, tendem a apoiar as interpretações oficiosas dos acontecimentos controversos» (pág. 136). Também na crítica da concentração de meios de comunicação, Edward S. Herman (op. cit.) remete o dispositivo instrumental dos media escritos para as redes de dependências e de interesses, sublinhando que «a credibilidade dos meios de comunicação de massas deriva também do facto do seu comportamento, frequentemente homogéneo, surgir 'naturalmente' a partir da estrutura industrial. (...) A autocensura, as forças do mercado e as normas das práticas noticiosas podem produzir e manter uma perspectiva particular tão eficazmente como uma censura formal de Estado» (p.215). Outros aspectos a considerar: a notícia como representação/remitificação (Robert Hackett, A.D. Rodrigues), e como "aparelho ideológico", emergindo assim os media «em posição diametralmente oposta àquela que conceptualiza o campo jornalístico como 'contrapoder'» (p. 21). Também a questão da concentração (correlativa da autocensura e da redução do pluralismo), sendo cada vez mais referida nos últimos anos, é aqui abordada, ou como estrutura burocrática, ou como projecto em autonomia - postulando, por exemplo, a exigência de organizações flexíveis e não burocráticas (John Soloski), o que remete para a teoria organizacional (Warren Breed) «a qual vê o produto jornalístico como sendo essencialmente um produto de uma organização e dos seus constrangimentos» (p. 134) , traços que o discurso, inevitavelmente, explicita. De referir que os argumentos anti-narrativistas expressos pela maioria dos autores referenciados na antologia só dificultam a identificação da prática jornalística de uma forma desdramatizada quanto à ideia da filiação ao real e da sua reificação. Não é o caso das referências de Bird e Dardenne à dualidade objectividade/narratividade. Estes autores pretendem que o discurso objectivo também pode ser "narrativo", o que não inviabiliza, porém, uma possível "aproximação" do "real". Mas, como referem, quase sempre se invoca "dois ideais impossíveis" e antagónicos, por exemplo, assim separando «as exigências da realidade que eles (os jornalistas) vêem como atingíveis através de estratégias objectivas, e as exigências da narratividade». (pág 273). Do seu ponto de vista, "os jornalistas sabem que os acontecimentos parecem mais reais aos leitores quando são relatados em forma de 'estória'; quando assim é, estes dão por si a afundar-se na lama da 'ficção' e a puxarem os cintos de segurança da objectividade e do facto» (p. 277) - e concluem: «Mais do que constantemente tentar restabelecer limites, deveríamos, contudo, considerar a observação de Tuchman de que 'ser um repórter' que lida com os factos e ser um contador de 'estórias' que produz contos, não são actividades antitéticas» .
E em Portugal concretamente, que questões se colocam à história e à crítica do jornalismo? A difícil conquista da liberdade de imprensa é, ainda hoje, uma realidade de todos os dias. Nuns países mais do que noutros. Em Portugal, os estudos sobre essa luta constante, travada, no fundo, desde a criação da primeira Gazeta, são ainda abordagens introdutórias do tema. Mas a nossa história, neste domínio, não deixa margem para dúvidas. Portugal teve, por exemplo, a mais rigorosa de todas as censuras inquisitoriais. Dos Index quinhentistas à Censura Prévia salazarista, passando pelos censores dos Lusíadas e pela criação do Desembargo do Paço com D. Sebastião, é todo um rol de atrocidades intelectuais, físicas e persecutórias, cuja genealogia aprofundada está por fazer. Neste domínio, como em muitos outros, vivemos no limbo de todas as ignorâncias.
Um dos contributos para o estudo do fenómeno censório em Portugal é a dissertação de Graça Franco A Censura à Imprensa. Recordem-se, a propósito, os trabalhos e/ou monografias de Artur Anselmo, I. S. Révah, Raul Rego, Graça Almeida Rodrigues, Arons de Carvalho, César Príncipe e poucos mais. Em A Censura à Imprensa Graça Franco fez a síntese da história da legislação sobre a liberdade de expressão ao longo de quatro grandes períodos a partir da emergência do "constitucionalismo" português: de 1820 a 1910 (aqui uma «abordagem mínima» de um período de «aprendizagem da liberdade» como introdução aos períodos posteriores); de 1910 a 1926; de 1926 a 1968; e de 1968 a 1974. Períodos extraordinariamente complexos e de vastíssimo acervo censório e persecutório.
A história da censura imediatamente posterior à revolução liberal de 1820, com as consequências criadas designadamente no segundo ciclo da imprensa de exílio, daria tema para várias teses. De qualquer das formas a estratégia seguida na análise de Graça Franco tem pelo menos a vantagem de permitir uma leitura comparada entre diferentes períodos. Tal como a autora defende, «A Liberdade de Imprensa, que foi para o Regime Constitucional, simultaneamente, sustentáculo e causa primeira da sua destruição (tribuna mais eficaz do que o Parlamento para os defensores da República), encontra na Primeira República tratamento idêntico ao que obtivera no regime anterior» (pág. 186).
Ao longo deste seu trabalho, designadamente no período posterior a 1910, Graça Franco confere no texto de lei, no fundo, essa relação perversa entre o optimismo da vontade de liberdade, e o pessimismo, não da inteligência, mas da vontade de poder, que se traduzia na repressão e no recorte da liberdade legitimado nos múltiplos "abusos" alegadamente cometidos por escritores e jornalistas. Nem que para isso fosse necessário dar cobertura à repressão com legislação «progressista» (p. 74, em referência à primeira lei publicada após o fim da Primeira República). Ou nem isso... Chegados a Salazar, ele próprio confidenciava, nos anos 30, a António Ferro que o importante era «a «acalmação dos espíritos, o esquecimento de ódios e paixões (...) modificar pouco a pouco, pacientemente, as paixões dos homens, atrofiando-as, calando-as, forçando-nos temporariamente a um ritmo vagaroso, mas seguro, que nos faça descer a temperatura, que nos cure da febre...». Mais uma vez, a história dos media como a história de um fluxo unívoco de dominação. Um sistema intrinsecamente censório, que corresponde, em síntese, à auto-legitimação das ideias que um grupo impõe como concepção do mundo num determinado período histórico. Daí que, numa perspectiva histórica, «sempre que uma forma mais autoritária pretende assumir as rédeas do poder (...) a Liberdade de Imprensa recue» (p. 12). Estaremos nós à vontade para dizer que já não é assim?
Não é muito diferente a visão do clássico de José Tengarrinha, sobre a genealogia da Imprensa periódica em Portugal. À parte algumas outras obras também de carácter geral mas de menor relevância publicados neste domínio (os Elementos para a História da Imprensa Periódica Portuguesa de Alfredo da Cunha, de 1941, por exemplo) e de algumas monografias de maior importância (Georges Boisvert sobre João Bernardo da Rocha Loureiro; Marie-Hélène Piwnik sobre O Anónimo; Jacinto Baptista sobre Herculano e sobre O Mundo; F. Piteira Santos sobre Proença e A Alma Nacional; os estudos sobre a Imprensa operária de César Oliveira e Maria Filomena Mónica), entre outras, a obra de José Tengarrinha emerge de facto no panorama pobre da bibliografia portuguesa da área da História da Imprensa como trabalho de referência indiscutível.
Inicialmente este estudo apresentava-se dividido em três partes, que correspondiam «grosso modo» a uma proposta de periodização da própria História da Imprensa periódica portuguesa - a saber: os primórdios da imprensa periódica em Portugal; a imprensa romântica ou de opinião; e a organização industrial da imprensa. A edição revista em 1990 introduz novos elementos, nomeadamente no que se refere à parte introdutória, com um novo capítulo - «Os Antecedentes». É feita também a reformulação da «primeira época» referente aos «primórdios» e são ainda integrados dois novos subcapítulos na actual terceira parte: «A imprensa ilegal durante a guerra civil» e «Desenvolvimento da imprensa operária».
A estrutura da primeira edição é assim mantida, não se observando de igual modo qualquer reinterpretação da genealogia da Imprensa no contexto histórico-cultural do período pós-tipográfico em Portugal. Aliás, essa era já uma das limitações da versão inicial, na medida em que, enquanto texto que traçava as «linhas muito gerais» da história da Imprensa periódica em Portugal, não tinha necessariamente a pretensão de redimensionar o dispositivo histórico-cultural que tem caracterizado a nossa história contemporânea, através de uma reflexão de fundo sobre o lugar que o «quarto poder» nele veio ocupar, procurando o saber constituinte e histórico, definindo o sistema que permitiu a emergência de enunciados como acontecimentos singulares.
Ainda assim, alguns elementos importantes são avançados. Veja-se em primeiro lugar que os primeiros periódicos, de que é exemplo para Portugal a Gazeta de Lisboa (1641), foram desde início uma espécie de «aparelhos ideológicos de Estado», «folha oficial», suporte do Estado moderno então emergente de tal forma que, à imagem do que se passava em diferentes cortes europeias, também em Portugal a fidelidade a D. João IV e às diferentes políticas de governação posteriores (inclusive, mais tarde, ao ocupante francês: Junot obrigou a substituir no cabeçalho as armas portuguesas pelas águias francesas) era uma constante - e quando o não era espreitava-a a suspensão.
O primeiro efeito desta ligação da Imprensa ao poder foi o aparecimento dos primeiros periódicos de crítica social e satíricos, dos panfletos, das muito perseguidas gazetas manuscritas e, mais tarde, da imprensa de emigração ou de exílio, que foi sem dúvida o paradigma da imprensa de opinião em Portugal, se tivermos por referência os «grandes panfletários» britânicos, da Revue de Daniel Deföe (1704), ao Tatler (17O9), e ao Spectator (1711) de Steele e Addison.
Trata-se com efeito de uma das páginas de ouro da história da nossa Imprensa. Hoje é reconhecido, tal como aliás já na altura Luz Soriano se tinha apercebido, ser o jornalismo português de exílio, em Londres, produzido na fase de declínio da monarquia absolutista e em paralelo à emergência de uma esfera pública crítica, «quem por aquele tempo, principiou a difundir abertamente entre nós, por todas as classes da Nação, as ideias liberais». Tese idêntica sustenta, por exemplo, Maria Helena Carvalho dos Santos no seu artigo «O Português - um jomal republicano clandestino» 12 O estudo de Tengarrinha, sobre a fase industrial da Imprensa, começa por referir o aparecimento do Diário de Notícias (1864) enquanto modelo da «Imprensa-negócio» de que o Times britânico havia sido o paradigma a partir de 1811. Portugal neste aspecto não acompanha de forma nenhuma as grandes mudanças tecnológicas e comerciais que a partir da década de 30 do século passado se produzem praticamente em simultâneo nos países mais desenvolvidos. Sinal ou não do «reino cadaveroso» de Sérgio, o que é certo é que ficámos a dever ao ocupante espanhol as nossas primeiras folhas impressas. E a primeira Gazeta era «da Restauração»... O primeiro diário, por sua vez, «devemo-lo» ao ocupante francês... Demasiadas coincidências para uma história tão breve.
Notas:
1 Cf. Seltman, Approach to Greek Art, citado por McLuhan, A Galáxia de Gutenberg.
2 Carlos Rizzini, O Jornalismo Antes da Tipografia, Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1977.
3 Maria Helana da Rocha Pereira, Estudos de História da Cultura Clássica, I Vol., Cultura Grega, 4ª edição, FCG, Lisboa, 1976, pp. 121-122.
4 Cf. Émile Zola, Carnets d'Enquêtes, Plon, Paris, 1987.
5 Le Journal de Samuel Pepys (1632-1703) é considerado no Reino Unido como um verdadeiro clássico, um testemunho inigualável sobre o quotidiano na Inglaterra do século XVII.
6 Habermas, op. cit., citando Bücher, p. 209.
7 Pierre Albert e François Terrou, Histoire de la Presse, PUF,
8 Comunicación y Sociedad, edição da Universidade Complutense de Madrid, 1983.
9 Fenda Edições, Coimbra, 1986.
10 Walter Benjamin, ""Foi ao desmascarar a inautenticidade que Kraus se lançou na luta contra a imprensa", Pravda, nº4, Fenda Edições, Coimbra, 1986 - excerto de um texto publicado no Frankfurter Zeitung (Março de 1931) reeditado no livro Illuminationen, Suhrkamp Verlag, 1961. O título original deste texto é "Karl Kraus".
11 Traquina, Jornalismo: Questões, Teorias, 'Estórias', Vega,
12 História, nº 53, Lisboa, Março de 1983, pp. 32-54.
Etiquetas: História