Lições das políticas europeias dos anos 80/90, ou para onde vai o Audiovisual europeu?
Esta crise pode começar por identificar-se desde logo, ainda nos anos 80, na Europa do sul, que é um exemplo absolutamente paradigmático. Mais tarde, no início dos anos 90 confirmava-se a tendência recessiva - e nalguns casos mesmo de forte desequilíbrio económico - do negócio televisivo em geral. Nos casos que nos estão mais próximos, designadamente no que concerne ao audiovisual do Sul da Europa - sobretudo nos modelos espanhol, francês e italiano - era visível que a crise da televisão pública e privada se agravava provocando um aceso debate político em torno de uma questão decisiva para a «moralização» da concorrência televisiva: os elevados financiamentos suplementares que o sector público desses países reclamava e obtinha das respectivas tutelas para a sua viabilidade.
Nessa altura, em França, um relatório do deputado centrista Jean Cluzel admitia que o serviço público de televisão necessitava de fortes investimentos para evitar uma «derrapagem» incontrolável. Por sua vez, em Espanha, o então presidente da TVE, Garcia Candau, apresentava ao Parlamento um plano de viabilidade do «ente público» para reduzir o défice acumulado do sector público televisivo espanhol, que ascendia já no início dos anos 90 a 150 mil milhões de pesetas.
A estas necessidades, os privados, tanto em França como em Espanha, tinham uma acusação em comum: os governos eram os principais culpados da «asfixia» do sector privado. Por um lado pelas dotações suplementares a serviços públicos que recorrem à publicidade, por outro lado pela imposição de quotas incomportáveis. E se em Espanha nenhuma das redes privadas tinha atingido o «vermelho», o mesmo não se podia dizer do caso francês com a falência da «5» (La 5) em 1992, depois de um lançamento de Estado promovido por François Mitterrand sete anos antes. Mas tanto a Antena 3 como a Tele 5 consideravam «que competiam num mercado distorcido pelo financiamento ilimitado das televisões públicas». Uma das consequências desta «concorrência desleal» teria sido o «disparo do mercado», com o aumento exorbitante dos direitos de compra de filmes e também de transmissões desportivas. lncomportáveis, neste último caso, para as redes privadas emergentes. Deste modo, as principais reivindicações das duas redes privadas espanholas relativamente à TVE centravam-se, ou na defesa da limitação ao financiamento ou, caso fossem atribuídas subvenções suplementares, na exigência da redução do tempo concedido à publicidade, como acontecia já em Itália com a RAI.
A observação das políticas europeias da última década, mostra que estratégias contraditórias têm vindo a ser seguidas, por um lado através de uma lógica de incentivo à liberalização de mercados, como no caso britânico, por outro lado com práticas de resistência e mesmo de hostilidade a essa política, como no exemplo francês. Repare-se que já em 1988, Jack Lang considerava que a Europa poderia perder o controlo de um dos principais sectores onde a cultura contemporânea se constrói, o audiovisual. Nessa perspectiva, a Europa deveria ser construída com o audiovisual designadamente fazendo frente aos fluxos invasores norte-americanos.
A estratégia audiovisual europeia estava centrada em torno de três grandes aspectos: a criação de um grande mercado televisivo transfronteiriço, com regras próprias; a criação de mecanismos de incentivo e de financiamento extensíveis a todo o sector, da produção à distribuição, passando pela formação e uma forte dinâmica na área da concorrência e do mercado. Quanto ao primeiro aspecto, convém referir que a Directiva, mais do que criar um mercado «interior» na Europa, provocou um forte regime de concorrência entre diferentes mercados televisivos nacionais, quase sempre suportada sobre packages Made in USA. São esses conteúdos que permitem compreender que se tenha podido passar de 4 canais privados europeus em 1982, para 58 em 1992 e para 250 em 1997, havendo hoje mais de 1000.
Desde a adopção pela Comunidade Europeia, em 1984, do livro verde «Televisão sem Fronteiras» até à aprovação em Outubro de 1989 da Directiva do audiovisual, transcorreram cinco anos. Nesse período realizaram-se dezenas de desesperantes reuniões, imaginaram-se os mais diferentes cenários, agudizaram-se posições, ultraliberais opuseram-se a defensores de quotas, etc., etc. Tudo, no fundo, um tanto ironicamente, para que o Luxemburgo e a Itália deixassem de ter quotas de programas europeus abaixo dos 60 por cento, já que a quota de programas com origem no Velho Mundo era, nos restantes países da CEE, no final dos anos 80, superior a este «plafond». Comentando estes números, Patrick Cox, da NBC, dizia, na altura, à Variety: «Os americanos devem estar contentes por poderem vir a ter 50 por cento de tempo de emissão. Eles não têm isso agora»... Pouco mais tarde, o relatório Alain Moreau para a então ministra Edith Cresson, de Abril de 1991, considerava, no entanto, que «em cada 100 obras de ficção transmitidas pelas redes europeias, 57 têm origem nos EUA».
E segundo alguns dados, anteriores ao relatório Moreau, não tinham, de facto. Mas esta constatação não diminuía em nada a importância da directiva: para além de precaver situações do tipo «Canal Coca-Cola», salvaguardava aspectos fundamentais no domínio da publicidade, protecção de menores, direito de resposta, etc. Recorde-se que a administração americana encetou então, ainda antes da aprovação do texto, uma estratégia de pressão sobre a Comunidade, com vista ao não estabelecimento de qualquer proteccionismo. Diga-se que os receios americanos careciam cada vez mais de fundamento. Isso mesmo foi reconhecido publicamente por representantes das principais «networks» norte-americanas, aquando da aprovação do texto.
O propósito principal do texto legislativo comunitário era abrir e alargar o mercado europeu do audiovisual, levando-o a crescer das 250 mil horas de programação no final dos anos 80 para as 400 mil nos anos 90. Ora, isso significava que mesmo que a parte de mercado das produções norte-americanas não crescesse, o seu valor absoluto quase duplicaria. O comissário Dondelinger dizia então que não via «onde estaria o prejuízo para os norte-americanos num mercado de tal forma em expansão». Este argumento, complementado com os números divulgados quanto à capacidade de produção europeia da altura (5 por cento das 250 mil horas de que necessitava nos anos 80, prevendo-se 10 por cento das 500 mil horas previstas para o final de século), não convenceu a administração americana que fez diversas investidas na Europa - nomeadamente através de Carla Hill, representando o próprio Presidente Bush na área do comércio internacional, e de Jack Valenti, presidente da associação das majors de Hollywood. Posteriormente, já no início dos anos 90, numa reunião do Gatt, os Estados Unidos, através do seu delegado, Andrew Stoller, voltaram a apelidar de «repugnante» a Directiva comunitária, considerando que as suas disposições violavam frontalmente os princípios básicos do comércio livre, «impondo quotas discriminatórias sobre o produto da criatividade dos outros».
Mas se a administração americana era extremamente crítica, o mesmo não acontecia com as produtoras americanas que começavam a obter participações em grandes produtoras europeias, procurando exactamente entrar no mercado europeu «por dentro», podendo assim rentabilizar um conhecimento que dificilmente adquiririam do lado de lá do Atlântico. Se as estruturas de mercado permanecessem as mesmas, a Europa não poderia de facto satisfazer mais de 10 por cento das suas necessidades na área da produção de programas televisivos.
No final dos anos 80 a situação era portanto de contencioso entre os EUA e Europa. A directiva apenas havia acentuado o conflito já existente, aliás. Aparentemente, a situação nem era de desvantagem para a Europa. Num estudo realizado em Setembro de 1987, estudadas 46 redes europeias mais importantes, 77 por cento do tempo total de emissão era de origem europeia[1]. Os programas de origem europeia constituíam 68 ou 58 do tempo de difusão total, quer o ponto de vista fosse o da Directiva (excluindo emissões desportivas, informação, concursos e publicidade), quer fosse o da política francesa (apenas considerando séries, filmes e outros programas criativos). Ao comércio intra-europeu apenas estavam destinados 10 a 15 por cento dos programas europeus.
O facto, é que, esmagador ou não, o domínio norte-americano nos écrãs europeus era inequívoco. Quais as razões deste domínio? Podem apontar-se algumas: superioridade tecnológica das indústrias do cinema e da televisão; posição dominante no sector da distribuição; fortes economias de escala ao longo de toda a cadeia de produção/distribuição; grande mercado interno sem barreiras linguísticas e isento de intervenção pública com grande número de empresas. As consequências deste domínio, poderiam conduzir, na perspectiva dos mais pessimistas, à falência das pequenas indústrias locais ou ao seu lento estrangulamento. Entre deixar o mercado totalmente livre e obrigá-lo a um proteccionismo desajustado, era portanto necessário encontrar um equilíbrio razoável. O que, aparentemente, havia sido conseguido pelo GATT - Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas, já desde os anos 40. Não tratando desfavoravelmente os bens importados relativamente ao consumo doméstico similar, este acordo integrava justamente uma excepção: o cinema. Eram assim aceites quotas de difusão com o objectivo de beneficiar a melhoria das quotas de cinema europeu. Já em 1961, aliás, os EUA tomavam a iniciativa de propor que os programas de televisão ficassem de fora das quotas aplicada ao cinema, mas os franceses opuseram-se radicalmente, não se tendo então chegado a nenhum acordo. Europa e Canadá passavam assim a estar na mira dos ataques norte-americanos, sobretudo os seus vizinhos, uma vez que estes mantinham a obrigatoriedade de emissão maioritária em prime-time alargado (18h00 - 00h00) de programas canadianos.
Até que é aprovada a Directiva europeia, desde logo com a oposição clara dos EUA (MPAA), que então se viram sobretudo contra os franceses, que num decreto de Janeiro de 1990 impõem quotas de 60 por cento de difusão europeia e 50 por cento francesa, das 18 às 23 horas.
Os americanos voltam de novo ao ataque nas negociações sobre o comércio de serviços, agora no âmbito do Uruguay Round, ainda em 1990. Objectivo: reduzir as quotas francesas e prevenir novas restrições na CEE. Mas apesar de americanos e japoneses considerarem que as especificidades do sector Audiovisual não requerem excepção de tratamento, geral ou específico, de um ponto de vista cultural, a verdade é que a Comunidade, apesar de divergências internas, manteve a especificidade sectorial, preservando os objectivos culturais dos serviços audiovisuais – pelo menos na negociação...
De qualquer forma, as quotas continuavam a ter os seus críticos. Ao longo dos últimos anos, vários especialistas chegaram mesmo a considerá-las um instrumento medíocre quer para atingir fins culturais, quer para encorajar as indústrias locais. «O proteccionismo não deve ser aplicado face ao que é exterior à Europa mas sim face ao que é medíocre», dizia-se no relatório Europe 2000: What Kind of Television?, publicado em 1988 pelo European Institute for the Media e coordenado por Giscard d'Estaing. Veja-se nessa perspectiva o que sucedeu com a avalanche de novos canais, fusões, satélites digitais, etc: aumentou fortemente a presença de conteúdos norte-americanos. Por outro lado, através apenas de subvenções directas à produção desencorajam-se, em parte, investimentos privados. A solução deveria (deverá) ser encontrada num modelo híbrido: se bem que as actividades económicas em matéria audiovisual devam ter em conta objectivos não económicos, os princípios económicos têm certamente um papel importante na escolha dos instrumentos susceptíveis de atingir tais objectivos.
Uma das principais diferenças entre a indústria audiovisual europeia e a norte-americana é, segundo André Lange e Jean-Luc Renaud, em The Future of the European Audiovisual Industry[2], a baixa capacidade dos europeus para conseguirem penetrar nos mercados exteriores - Estados Unidos e América Latina, designadamente. Ainda assim, em 1985, o volume de exportações representava cerca de 1/3 das exportações norte-americanas no âmbito da distribuição cinematográfica. O grande exportador europeu foi desde sempre o Reino Unido, seguido de muito longe pela França e pela Itália, cada um dos quais com apenas cerca de 10 por cento do valor do mercado exportador britânico. A posição privilegiada do Reino Unido no contexto europeu não lhe permite porém situar-se de um modo tão favorável no mercado internacional, onde desde há cerca de 20 anos as «networks» e as distribuidoras norte-americanas chegam a controlar cerca de 80 por cento do mercado de programas.
A dificuldade de penetração no mercado americano, por seu lado, só aparentemente tem que ver com uma espécie de proteccionismo interno: trata-se antes de uma autoregulação do mercado com base em estruturas legais, comerciais, industriais e discursivas extremamente homogéneas, e por isso dificilmente permeáveis a modelos exógenos, para além da competitividade no que respeita a preços.
Mal ou bem, o chamado «mercado interno» europeu estava assim criado, mas, de facto, eram os próprios americanos que se aproveitavam dele em primeiro lugar. E logo depois a ficção inglesa. Quanto à ficção francesa, com fortes incentivos apenas na área do cinema, ela descia tanto no mercado interno, como nas exportações europeias. As políticas de quotas não haviam funcionado e, mais, verificavam-se gritantes contradições: «A França liberalizou o seu mercado televisivo bem mais a fundo que o Reino Unido e o governo francês favoreceu no plano nacional uma expansão do sistema que condenava, por outro lado, no quadro europeu»[3]. A questão é que no Reino Unido predomina a ideia de que o cinema e a televisão norte-americana têm sido benéficos para a indústria interna desde os anos 50, enquanto em França, essa mesma presença, pelo facto de ser mais recente e noutra língua, e num meio que tem como referente maior a cultura e a língua como factores de identidade e de coesão, é de certa forma indesejável.
Nos anos 90 os EUA dominavam o mercado europeu de forma absolutamente esmagadora. A título de exemplo, em 1993, 75 por cento das receitas de bilheteira na Europa eram referentes ao cinema americano e 15 por cento apenas ao cinema europeu. E o défice comercial no audiovisual entre a União Europeia e os EUA, aumentava de 2,1 mil milhões de dólares em 1988 para os 6,3 mil milhões de dólares em 1995 (OEA). Em termos de consumo europeu, o cinema não representa senão 9 por cento das despesas dos consumidores europeus no sector audiovisual, enquanto a televisão (taxas e assinaturas) representa 72 por cento e o aluguer de cassetes 18 por cento.
No âmbito do serviço público, a lógica de mercado foi-se apropriando progressivamente das suas estratégias, descaracterizando-o e uniformizando-o, quando se pretendia, de início, exactamente o contrário. Predominava já a «guerra de audiências» nos mercados da Europa do Sul. É o período em que se fragmenta fortemente a paisagem televisiva europeia, sendo esse em primeiro lugar um factor que conduziu a uma redução da diversidade da oferta e a uma extrema fidelização dos públicos.
Na emergência da era digital, as suas múltiplas crises voltam a estar presentes, mas, curiosamente, o serviço público reaparece agora como que relegitimado pelas necessidades democráticas, sociais e culturais de cada sociedade, pela necessidade de preservar o pluralismo dos meios de comunicação social e pela importância da sua dimensão alternativa num quadro de multiplicidade da oferta. O problema é quando se trata apenas de intenções.
O Tratado de Amesterdão vem reconhecer que é da responsabilidade de cada Estado-Membro definir e organizar o seu sistema de serviço público de radiodifusão da forma que considere mais adequada, confiando-lhe as funções que considere necessárias à prossecução do interesse público. Da mesma forma, o Tratado não prejudica a competência dos Estados-Membros de financiarem o serviço público de radiodifusão, na medida em que tal financiamento seja concedido para a execução da sua missão de serviço público conforme definida por cada Estado-Membro e desde que não afecte a concorrência dentro da Comunidade de uma forma contrária ao interesse comum, embora deva tomar em conta a necessidade de concretização da missão de serviço público. É a primeira grande demissão da UE face a uma das questões centrais para a Europa – a qualidade e a independência das televisões públicas.
Garante-se, em todo o caso, em diversos documentos comunitários, que qualidade e a diversidade devem constituir a base do serviço público de radiodifusão. E bem assim, a transmissão de programação educativa, a informação objectiva da opinião pública, a garantia do pluralismo e a transmissão, democrática e gratuita, de programas recreativos de qualidade que contribuam para o reforço da produção europeia e respectiva adaptação aos novos mercados, participando na nova evolução digital.
É também naturalmente legítimo que os radiodifusores públicos procurem abranger um público alargado, de forma a satisfazer as necessidades de todos os grupos sociais, muito embora não seja claro o que é que isso significa em termos de «share» e de audiência média. Há, no entanto, claras divergências entre radiodifusores públicos e privados no que se refere às suas atribuições e competências e à estratégia política europeia no sector.
O financiamento do serviço público de radiodifusão era também reinterpretado, neste caso pelo Relatório do Grupo de Alto Nível, coordenado por Marcelino Oreja: deveria, entre outras coisas, ser proporcional ao necessário para o cumprimento da missão de serviço público, não devendo exceder esse necessário (critério da proporcionalidade); ser concedido de forma transparente, permitindo assim comprovar a qualquer momento o cumprimento do princípio anterior (critério da transparência); o financiamento das actividades de serviço público deveria ainda provir essencialmente de fundos públicos, tendo em conta a situação concreta de cada Estado-Membro - o recurso ao mercado da publicidade deve continuar a ser secundário, devendo ser instituídas as garantias necessárias para assegurar a lealdade da concorrência. E propunha-se que o serviço público de radiodifusão pudesse ser confiado a operadores públicos ou privados, consoante a escolha de cada Estado-membro.
É claro que, como qualquer outro conceito, a ideia de serviço público de televisão não é uma noção estagnada no tempo. Se no final dos anos 80 predominava o conceito de diversidade da programação, dez anos transcorridos verifica-se que todos os operadores públicos de televisão na Europa preferem falar prioritariamente de uma outra diversidade: a diversidade de negócios. Por outro lado, por muito distintas que sejam as atribuições e competências que cada um queira imputar ao espírito da lei, a verdade é que as empresas públicas de televisão europeias, grande parte delas com enormíssimos défices financeiros, durarão o tempo que as respectivas sociedades, no novo contexto comunicacional, considerarem aceitável e, porventura, suportável. Do que se trata então é de gerir um tempo de transição e de preparar o afastamento do Estado da área comercial do sector da comunicação social, mas também do seu domínio político sobre os media públicos. Isto porque, nesse mesmo novo contexto comunicacional que caracteriza o novo século, fará certamente todo o sentido manter um serviço público de televisão pelo menos enquanto houver cidadãos que não se reconheçam nos conteúdos da nova babel televisiva - o que, diga-se de passagem - será também cada vez mais difícil dadas as novas plataformas emergentes.
Daí que não concorde com alguns apóstolos da desgraça que vieram a terreiro alegar, nos anos 90 e depois, imobilismos e excessos no que concerne a esta matéria. Tendo integrado a Comissão de Reflexão Sobre o Futuro da Televisão de 1996, e recordando que as estratégias encetadas a partir de então, nomeadamente de progressiva reestruturação da empresa, de procura de parcerias nas diferentes áreas de negócio e depois de renegociação do passivo, era efectivamente uma das apostas fundamentais na perspectiva da «refundação» da RTP e para a sua adequação aos tempos que correm, de migração para o digital. Que, considero, deve ser feita sem grandes ambições “comerciais”. E sobretudo com uma rigorosíssima coerência. Espelhada, no fundo, numa programação - mais do que plebiscitada -, consensualizada amplamente pelos portugueses. Se ela for claramente alternativa à babel televisiva, se for claramente uma retaguarda da cultura, da educação e da língua portuguesa, não tenho dúvida que os portugueses não lhe retirarão o seu apoio.
No passado, em termos europeus, chegou a pensar-se que uma das soluções do audiovisual europeu estaria no desenvolvimento de projectos de televisão transfronteiras. Nos anos 80 havia algumas expectativas nesse sentido. No entanto, dos vários projectos que se perfilaram nesse domínio alguns não chegaram a constituir-se e, outros dos que apareceram, fracassaram. Foi o caso da Eurikon (UER/ESA, 1982) e, via satélite Olympus (ESA, 1985) já de difusão directa, a Europa TV. Mantém-se, no entanto, o Euronews, surgido em 1992. Tinha como objectivo estratégico, contribuir para a ideia de coesão e de integração europeia entre os seus estados-membros e nações vizinhas. Poder-se-iam encontrar algumas das razões que muito provavelmente contribuíram para esse fracasso: desde logo, barreiras linguísticas, especificidades culturais/locais, dimensão do mercado e da indústria, dificuldades de recursos humanos e formação. E ainda, diversidade de públicos, insuficiência de recursos, estratégias de comunicação inadequadas. Certo é que o Euronews, apesar das dificuldades financeiras por que tem passado, conseguiu de facto estabilizar as suas audiências de forma transversal a toda a Europa, diferenciando a sua emissão em cinco línguas: inglês, francês, alemão, italiano e espanhol.
Se a verdadeira questão é a diversidade cultural há que ponderar seriamente a dualidade local/global, quer em termos de indústria audiovisual europeia, quer em termos de preservação da diversidade e dos particularismos culturais. Só com uma base fortemente identificada e integrada a partir do «local» nos fluxos e na produção de programas do audiovisual se pode ter expectativas relativamente à coesão de um todo polifacetado. Identificar as diferenças, compreendê-las e partilhá-las - e não anulá-las -, é porventura o caminho mais duro e complexo, mas aquele que poderá deixar traços, raízes e história. Os media no plano local e/ou regional têm nesta mudança de milénio uma importância fulcral na constituição de um espaço político e cultural europeu. Como nós próprios referimos, as resistências ao sistema mass-mediático passam por ser localizadas e lutam por libertar a partir de dentro as «línguas de desejo» de que falava Guattari, as línguas do social censuradas por essa espécie de autismo que os media clássicos em geral têm alimentado[4]. Moragas Spà reconhece que um vazio no âmbito regional e local não só prejudicaria as próprias regiões e cidades, mas privaria também a Europa de um nível imprescindível na sua política de comunicação global[5]. Richeri propõe uma rede de relações entre a televisão e outras instituições ou entidades regionais e locais (jornais, teatros, universidades, sociedades desportivas ou administrações públicas) para estabelecer formas de co-produção e de cooperação permanentes. (...) Cooperação que oferece a oportunidade de proporcionar serviços (educação, formação, reciclagem profissional ou prevenção sanitária) destinados a públicos especializados, e, ao mesmo tempo, gerar receitas». E para Bernat López «os perigos de homogeneização e sincronização cultural que comporta a Directiva afectam também as comunidades culturais e linguísticas de âmbito geográfico infraestatal, e de maneira mais ameaçadora ainda, dada a precariedade generalizada dos mecanismos de defesa e promoção dos seus espaços de comunicação»[6]. O investimento na comunicação «local» hoje justifica-se cada vez mais dadas as potencialidades que os novos suportes e meios digitais oferecem a uma rápida circulação dos conteúdos, daí este ser um tema estratégico neste ponto de «não regresso», já não do «audiovisual», mas daquilo que, à falta de melhor designação, se poderia chamar as indústrias de conteúdos na Europa.
Por fim, se é verdade que os indicadores de produção de ficção e de frequência de cinema, bem como o número de salas de cinema na União Europeia têm vindo a crescer, o facto é que este aumento tem beneficiado sobretudo - e mais uma vez - a indústria americana, que viu a sua quota de mercado aumentar de 56 % para 78 % nos anos 90. E se, no início da década de 90, as majors captavam, através da exportação, 30% das suas receitas, no final do século essa quota ascendia aos 43%, sobretudo pelas vendas a canais temáticos e à pay TV europeia. Por outro lado, a quota de mercado dos filmes europeus diminuiu de 19 % para 10% no mesmo período. Ora, alguma coisa está efectivamente mal. Ainda assim, em 1997 a Europa chegou aos 750 milhões de espectadores de cinema (+6,8%) em grande parte devido aos multiplexes e em parte também devido ao sucesso de filmes nacionais nos seus próprios mercados.
Dados relativos à produção de ficção na Europa, são mais positivos, designadamente na Europa meridional. Segundo um estudo de Milly Buonanno (Eurofiction) esse aumento verifica-se sobretudo no day time (Itália 80%, Allemanha 70%, Espanha 65%, França 62%), com excepção do Reino Unido (dois terços são prime time) sendo certo que se trata de um género que atrai públicos, quer pela «proximidade cultural», quer pela língua, quer ainda pelo fenómeno de identificação. Nos cinco principais mercados europeus a produção de ficção atingiu as 4771 horas o que significa um aumento de 16 por cento relativamente ao ano de 1997. Destacam-se, por géneros, as séries com muitos episódios no day time e também os telefilmes (48 por cento das novas produções). Este crescimento foi mais nítido em Itália e Espanha e em geral deve-se ao aumento do número de episódios por título. De referir que este incremento da produção tem sido acompanhado, nos principais mercados, por um aumento dos índices de audiências. Para André Lange, «le suivi systématique des caractéristiques industrielles (formats, genres, localisation dans les horaires de programmation, etc.) et des principaux aspects culturels concernant la diffusion d'oeuvres de fiction nationales par les chaînes nationales constitue un excellent outil pour comprendre la configuration et les tendances du marché en Europe». O mesmo André Lange, referia em 1998 que o ritmo de crescimento da indústria audiovisual europeia tinha tendência para enfraquecer. De facto, medindo o ritmo de crescimento do sector pelo volume de negócios das 50 maiores empresas audiovisuais europeias, em 1996 havia sido de 4,1 %, enquanto em 95 havia sido de 9%. Os défices das trocas no sector aumentavam também para 18 por cento em 96 (11% em 95), atingindo os 5,6 mil milhões de dólares.
Tendencialmente positivos haviam sido os indicadores relativos à TV por assinatura. Com cerca de 480 serviços de programas na Europa em MPEG-2 no final de 1997, eram atingidos na Europa os 9 milhões de assinantes de «bouquets» de satélite, contra 6,1 milhões no final de 1996. Quanto à publicidade, continuava a crescer, em televisão, a um ritmo superior à dos restantes media. E em termos consumo de programas interactivos atingiam-se na Europa os 2,7 mil milhões de ECU (3,3 para o cinema, 5,4 para o vídeo e 3,7 para a pay TV).
Mas se a análise do passado recente não é muito animadora, as perspectivas futuras poderão provocar uma mudança significativa. Prevê-se que o mercado audiovisual europeu não só registará um crescimento mais rápido a nível mundial, com uma taxa de crescimento muito superior à dos Estados Unidos, como se pensa que os produtores europeus obterão no futuro uma maior quota de mercado, atingindo receitas que deverão passar dos 28% em 1995 para 30% em 2005. Apesar disso, continuarão numa posição consideravelmente minoritária nos seus mercados nacionais. Contudo, nos mercados emergentes (como a televisão por assinatura, televisão interactiva e os serviços multimédia) o aumento da quota de mercado dos produtos europeus poderá atingir os 21% em 2005 (13% em 1995).
Em termos do investimento das famílias, cerca de 48% das receitas totais no sector dos meios de comunicação social provirão, em 2005, do consumo directo dos agregados familiares (contra 33% actualmente). Segundo as previsões, a televisão interactiva e os serviços multimédia contribuirão significativamente para este crescimento, não tanto por substituírem os produtos e serviços existentes, mas pelo facto de os complementarem.
Mais do que de avanços e recuos na indústria audiovisual europeia nos últimos dez anos, parece-nos que nesta análise retrospectiva ressaltam sobretudo impasses, diferentes estratégias e hesitações que têm de facto bloqueado uma profunda renovação do sector desde que a Directiva TSF foi aprovada em 1989.
Procurando identificar algumas das áreas em que a aposta europeia falhou, veja-se desde logo a questão da educação. A educação e a formação neste sector são de facto essenciais para que os europeus possam dominar com sucesso a nova era digital. É o relatório do Grupo de Alto nível que o reconhece. Sugere-se inclusive que os Governos nacionais devem conceder mais importância à educação em matéria de meios de comunicação social nos programas escolares, desde os primeiros anos de aprendizagem. É uma constatação por demais evidente não se compreendendo porque é que em dez anos pouco se avançou nesta matéria. O caso português é aqui exemplar.
Há ainda a questão das barreiras técnicas e económicas. Nas primeiras podemos identificar as hesitações relativamente à convergência entre o audiovisual e as telecomunicações, os atrasos e custos na radiodifusão directa, a reduzida distribuição por cabo na Europa; nas segundas prevalece a inadequação do satélite como suporte estratégico na internacionalização de mercados e no seu complemento - uma interactividade, em protocolo IP, baseada na partilha e na solidariedade; a diversidade de produtos e marcas - e de consumidores; a necessidade de campanhas localizadas mesmo em produtos e marcas presentes em diversos mercados; diferentes práticas de programar e ver televisão consoante, por exemplo, o sul e o norte da Europa, etc., etc.
E ainda a questão do desenvolvimento do digital. Como plataforma privilegiada para os serviços de televisão digital foi entretanto idealizada a DVB-T, que pode constituir a principal porta de entrada nos lares do comércio electrónico e da maioria dos conteúdos on-line6. Mas a verdade é que a nova era digital não se compadece com outras opções estratégicas, onde se perfilam, designadamente, necessidades óbvias como consolidar uma estratégia de online que disponibilize designadamente os conteúdos públicos portugueses, culturais, educativos e os da administração pública. Ou o fazer evoluir pequenos e grandes grupos económicos e de comunicação, pequenas e médias empresas, para a nova economia digital cruzando serviços, informação e conteúdos educativos, formativos e lúdicos. A formação de recursos humanos, dando prioridade às áreas de computação e digitalização e de gestão de produtos e projectos multimédia, o que supõe um forte investimento estratégico na formação desses mesmos recursos, que como se sabe, na Europa são muito inferiores aos EUA: 1,8 e 2,6 milhões de empregados, respectivamente (dados de 1999). Mas veja-se que a Europa tem grande potencial em TIC - sector que no final da década passada via a Europa crescer 12% face aos 8,1% no mercado norte americano.
De tudo isto se conclui que as políticas para o sector passam ainda por uma redefinição das velhas estratégias de produção e distribuição, onde todos os apoios serão importantes, desde que a pretexto do proteccionismo não se tornem estagnantes e isolacionistas, contemplando portanto a estrutura e os fluxos dinâmicos do mercado, bem como o interesse do público; e de novas opções estratégicas, fortemente determinadas para uma nova cultura digital. O papel da UE é aqui extremamente importante, mas deve encontrar a contrapartida justa à mais que provável regulação pelo mercado, sobretudo no que concerne à oposição público/privado e ao acesso aos conteúdos educativos e culturais. No âmbito do modelo televisivo estrito, se a intervenção não for no sentido de salvaguardar um «serviço público mínimo» fortemente identitário das «línguas» e culturas «locais» então a sua política não terá senão como efeito a massificação dos arquétipos da globalização, que pairam com um espectro sobre o sector do audiovisual europeu.
E isto porque, entre os aspectos mais críticos da estratégia comunitária para o audiovisual europeu podemos referir, entre outros, factores fortemente bloqueadores de um sistema aberto, quer do ponto de vista transnacional entre os diversos Estados-membros e sobretudo nos mercados nacionais de cada um deles, mas também do ponto de vista da cidadania, a começar exactamente pelas práticas críticas dos serviços públicos de televisão na Europa.
Daí, algumas conclusões sobre a crise do audiovisual europeu, uma crise que não é de agora, que, no fundo, nos tem acompanhado desde que foram anunciadas as primeiras “boas intenções”, daquelas que como se sabe está o inferno cheio:
Ao contrário do desejado pelo Livro Verde (1984) e pela Directiva TSF (1989) verificou-se uma contínua perca de capacidade face aos EUA, com o agravamento constante do défice comercial do audiovisual relativamente europeu, pelo que são essencialmente os americanos que se aproveitam em primeiro lugar do chamado ‘mercado único’ europeu.
Em consequência, continua a verificar-se uma baixa capacidade dos mercados europeus para conseguirem penetrar nos mercados exteriores, em particular no norte-americano, ao fim de 25 anos de proteccionismo e de grandes incentivos, certamente mal direccionados, na Europa.
Se inicialmente (anos 80) se pretendia a criação de um grande mercado televisivo transfronteiriço, a Directiva, mais do que criar um mercado ‘interior’ na Europa, provocou, ao contrário, um forte regime de concorrência nos diferentes mercados televisivos nacionais, concorrência essa genericamente suportada sobre conteúdos americanos.
A forte concorrência nos mercados nacionais tem implicado queixas de que os governos são os principais culpados da ‘asfixia’ do sector privado. Fundamentalmente pelas grandes dotações a serviços públicos que recorrem à publicidade e têm estratégias de programação comerciais.
A notar ainda a grande mistificação sobre as “quotas de programação” e as suas inconsequências, nomeadamente a falta de produção europeia não-nacional no prime time das redes europeias, sobretudo nos canais de grande audiência dos serviços públicos de televisão.
Desresponsabilização da União Europeia em matérias fundamentais para o futuro da Europa, como a monitorização da identidade e diversidade cultural europeia nos serviços públicos de televisão dos Estados-membros.
Em consequência, os perigos de homogeneização cultural que comporta a Directiva e que afectam as comunidades culturais e linguísticas de âmbito geográfico local/regional.
Ainda, e nomeadamente, a questão da independência dos serviços públicos de televisão europeus face aos poderes políticos e a falta de atenção e de monitorização europeia do que se passa nas televisões públicas dos Estados-membros, como no caso português, onde uma instituição como o Tribunal de Contas teve que emitir um parecer crítico face à RTP (2005), onde dizia, por exemplo, que “a ausência de pareceres de entidades com responsabilidades para aferir do cumprimento efectivo das obrigações qualitativas de serviço público revela as lacunas ainda existentes quanto ao sistema de controlo do contrato de concessão de serviço público."
Notas
[1] Citado por André Sapir, «Le Commerce international des services audiovisuels - Une source de conflit entre la Communauté européenne et les Etats-Unis, l'Espace Audiovisuel Europeen, Édition de Luniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, 1990.
[2] Lange, André (in collaboration with Jean-Luc Renaud), The Future of the European Audiovisual Industry, with a foreword by Anthony Pragnell, The European Institute for the Media, Manchester, 1988.
[3] Richard Collins, «Locked in a Mortal Embrace - Les politiques audiovisuelles européennes du Royaume-Uni et de la France», Réseaux, nº 87, Janvier-Février 1998, CNET, Paris.
[4] Francisco Rui Cádima, Os Desafios dos Novos Media, Editorial Notícias, Lisboa, 1999.
[5] Moragas Spà, «The regions: An unsolved problem in European audio-visual policy», Decentralization in the Global Era, London, John Libbey, 1995, p. 44.
[6] Bernat López, «Espacios cultural-comunicativos minoritarios ante la política audiovisual europea - Por um proyecto democratico, plural y tolerante», Decentralization in the Global Era, London, John Libbey, 1995., p. 61.
6 «Princípios e Orientações para a Política Audiovisual da Comunidade na Era Digital», CCE, Bruxelas, 14.12.1999, COM (1999) 657 final, p. 6.
Etiquetas: Directiva TSF, Regulação



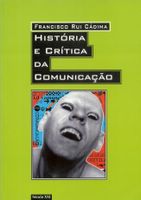





0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home