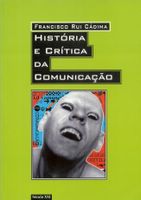Genealogia da publicidade e das estratégias consumistas
No século XVII, portanto, a noção de publicidade já existia, mas com uma significação de âmbito jurídico. Em 1694, de facto, a Academia Francesa integra a palavra publicité no seu dicionário com o seguinte significado: «(...) ne se dit que d'un crime commis au vus de tous...».
É curioso notar que em 1873 Littré refere, por assim dizer, ainda o sentido antigo do termo: «notoriedade pública da 'publicidade' de um crime - qualidade daquilo que se torna público, característica daquilo que pertence ao público».
Publicidade significava no castelhano de há cem anos atrás «vida social pública». Na Alemanha, o sentido da palavra, como vida pública, ou esfera pública, mantém-se ainda hoje. De uma forma geral, nos idiomas latinos, o sentido do termo «publicidade» como esfera pública foi-se perdendo até ganhar uma conotação completamente diferente, hoje é conhecida sobretudo como técnica de persuasão de massa «destinada a suscitar ou aumentar o desejo de adquirir este ou aquele produto, ou de recorrer a este ou àquele serviço».1
Poder-se-ia recuar, por exemplo, a Émile de Girardin, e ao século XIX francês, para vermos onde e quando pela primeira vez é utilizada a palavra publicidade com o sentido que tem hoje. Referia-se Émile de Girardin ao dinheiro que o Journal des Connaissances Utiles havia gasto em anúncios para conseguir os 120 mil assinantes a que se tinha proposto. Escrevia ele então, um tanto paradoxalmente, uma vez que ele seria historicamente um dos grandes estrategos da emergência do fenómeno publicitário, que «o uso desta publicidade é um dos motivos de censura do JCU».
Digamos que o moderno sentido da palavra publicidade emerge de facto com a sociedade industrial e principalmente com as agências de publicidade que apareceram, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, ainda na primeira metade do século XIX. A fase em que «o anúncio era para os negócios o que o vapor era para as máquinas» estava definitivamente ultrapassada - isto muito embora se fizesse já publicidade sem o intermédio de agências, antes delas serem criadas.
É sobretudo o espírito filantrópico que preside à emergência do Bureau d'Adresses de Théophrast Renaudot, que é de facto no século XVII o núcleo de origem da Gazette e do regime do «pequeno anúncio». É por volta de 1630 que Renaudot, em França, estabelece como que um ponto de ruptura relativamente às antigas folhas - manuscritas e impressas - que surgiram na Europa no século XIV, acompanhando o próprio tráfego da mercadoria. Precisamente em 1631 Renaudot lança a sua Gazette de France, para servir a política de Richelieu. A novidade consistia no facto de esta ser a primeira publicação periódica a inserir pequenos anúncios, o primeiro dos quais elogiava as virtudes das águas de Forges e apareceu com a data de 4 de Julho de 1631. Para chegarmos a Émile de Girardin faltavam ainda quase dois séculos...
Em 1657 aparece entretanto em Inglaterra o Public Advertiser que tinha praticamente como principal objectivo a publicidade. O Daily Courant (1702), primeiro diário da história da imprensa, insere já, em boa percentagem, páginas de anúncios. 1730 vê nascer o Daily Advertiser que é de início um simples jornal de anúncios mas que se torna rapidamente no maior jornal de Londres. França, Alemanha e Estados Unidos seguem de perto esta tendência, respectivamente com o Petites Affiches, o Intelligenz Blätter e o Boston Newsletter. De qualquer modo, a relutância em inserir anúncios continuava uma constante. Não se esqueça que os iluministas franceses, um pouco a par dos filósofos da Antiguidade, foram os maiores opositores das «folhas», das gazetas e de um modo geral dos «récits de bagatelles», como dizia Voltaire.
Os séculos XVII e XVIII decorreram portanto sem que se assistisse a uma evolução rápida de formas de publicidade - do pequeno anúncio para a comercialização de espaço em maior escala. É um período de jornalismo de escritores, de uma imprensa opinativa, pouco ou nada comercial e, de facto só no século XIX é que se define em termos quase universais, nomeadamente em França, Inglaterra e EUA, de modo quase simultâneo, a emergência de uma nova era para o sistema industrial e, claro, para a publicidade, que vem a ser estrategicamente decisiva para a consolidação da fase avançada da revolução industrial.
Na primeira metade do século XIX a noção de publicidade estava ainda associada, em França, a designações como «aviso», «tabuleta», prospecto», «anúncio», etc. Apenas nos meados do século XIX é que o actual sentido da palavra surgiu, no reinado de Luís Filipe, confirmado pelo dicionário de Littré. E se em França durante o primeiro quartel do século XIX muito poucos são os anúncios aceites pelos jornais em geral, já em Inglaterra acontece algo bastante diferente. Com efeito, desde os finais do século XVIII que se assiste a um autêntico «boom» da publicidade nas páginas dos jornais - e isto principalmente devido às medidas fiscais aplicadas à imprensa, tal como acontecerá, aliás, em França. La Presse, de Girardin, aparece a 1 de Julho de 1836 com um preço de assinatura que era cerca de metade do dos outros. Era de facto a publicidade que cobria o déficit existente. Émile de Girardin rapidamente arranjou publicidade suficiente para cobrir esse mesmo déficit: venda de imóveis, negócios financeiros, novos livros, produtos farmacêuticos e outros, constituíam a maior parte dos anúncios publicados. E, não menos importante, nascem as primeiras agências...
Em França, 1845 é o ano em que Charles Duveyrier abre em Paris 218 locais de recolha de anúncios fechando contrato simultaneamente com três grandes diários - Les Débats, Le Constitutionnel e La Presse -, ganhando assim o exclusivo dos contratos com os três jornais. No segundo quartel do século, Duveyrier lamenta-se, referindo que o Times publicava diariamente quase 1500 anúncios, contra 40 a 50 do jornal mais lido de Paris. Só em 1838, no La Presse de 25 de Agosto surge uma página cheia de anúncios num quotidiano. Em Portugal foi na Gazeta de Lisboa que apareceu, em termos de periódicos, o primeiro anúncio, chamado «aviso» naquela altura. Rezava assim: «Faz-se aviso às pessoas curiosas de língua francesa haver chegado a esta corte há pouco tempo um estrangeiro apelidado De Ville Neuve, francês de nascimento, natural da cidade de Paris, o qual fala língua latina, alemã, italiana, castelhana e portuguesa; e tem um método muito fácil para ensinar em pouco tempo a toda a sorte de pessoas; ainda às de cinco para seis anos, as que quiserem servir-se do seu préstimo podem encaminhar a casa de Manuel Dinis, livreiro da rua da Cordoaria Velha» 2 . No Porto, em 1827 aparece O Periodico dos Anúncios e em Lisboa, em 1835, O Jornal dos Anuncios e ainda no Porto, nesse mesmo ano, a Folha de Anúncios. Um ano depois surge O Grátis com tiragem de 2000 exemplares, jornal de anúncios distribuído gratuitamente pelos espaços públicos como cafés, botequins, etc. É só depois de 1864, com o Diário de Notícias, que insere logo no primeiro número quatro anúncios, que a publicidade inicia a sua fase de «industrialização» embrionária. Ao fim de um ano o Diário de Notícias havia publicado 14402 anúncios. Tengarrinha refere que pouco tempo depois do DN aparecer surge também a primeira agência portuguesa de anúncios - a Agência Primitiva de Anúncios - também conhecida por O Peixoto dos Anúncios - que tinha com o DN um contrato especial para a captação de publicidade.
Se, porém, pensarmos em algo diferente como é o caso do discurso publicitário, então teremos obviamente que ir mais atrás em busca da sua origem, que é simultaneamente muito velha e muito nova como sugeriram Jean-Charles Chebat e Michel Grenon 3 : «Com efeito, se considerarmos a dimensão 'informação' do discurso publicitário, encontramos vestígios desde a mais alta Antiguidade».
Segundo estes autores, uma primeira grande mutação do discurso publicitário produz-se com o desenvolvimento do capitalismo comercial. Isto porque, neste período aparecem por um lado as técnicas de informação de massa saídas da génese da era tipográfica, e por outro lado a massa de produtos oferecidos aumenta de forma notável.
Daqui se infere que a própria estratégia do discurso publicitário passa a assentar em pressupostos diferentes. Na verdade, se antes da revolução industrial o fenómeno concorrencial não se fazia sentir nos mercados, ao nível por exemplo da disputa das mercadorias de artesãos (típica da economia medieval), com a estandardização dos produtos e o surgimento dos grandes monopólios, tudo se modifica. O discurso e as práticas publicitárias passam a estar determinadas pela lei da concorrência.
O discurso deixa então de ser meramente funcional - um tal produto encontra-se num certo sítio a um determinado preço - e passa a ser simbólico por excelência. Stuart Ewen cita o jornal publicitário Printer's Ink, publicado entre 1888 e 1938, exactamente quando este discorria em torno da genealogia do próprio anúncio: «Num primeiro tempo o anúncio disse o nome do produto; depois pôs o acento sobre as suas características específicas e de seguida sobre o seu modo de emprego. A cada nova etapa afasta-se um pouco mais da linguagem da produção para melhor se insinuar no espírito do consumidor» 4 .
É aí exactamente que surge a agência de publicidade como agente autónomo relativamente a todo o campo institucional e empresarial. Paradigma deste modelo emergente e seu principal divulgador é Volney Palmer, fundador da primeira agência de publicidade norte-americana. Por essa altura a sua tarefa só podia ser uma: persuadir empresas e instituições de que o objectivo final de inculcar o desejo no público por um determinado produto só poderia ser conseguido através de uma técnica e de uma retórica próprias, sincronizadas e integradas no - e pelo - sistema dos media.
Enfim, mais do que permitir o crescimento pontual das vendas, as agências de publicidade tornaram-se elas próprias instituições de economia autónoma, permitindo ainda, no domínio da própria estratégia do capitalismo industrial, a criação de estruturas de concorrência adequadas, de forma a que toda uma estratégia de mercado fosse delineada, comportando-se em simultâneo como factor indispensável à manutenção de um capitalismo desenvolvido na sua expressão-limite de monopólio multinacional.
Por outro lado, no contexto político, a própria democraticidade da sociedade americana era como que a consequência lógica da pluralidade de valores, de produtos, e da sua manipulação - simbólica, social, etc. Consumo identificava-se, no fundo, com liberdade. Edward Filene, com a sua especial habilidade para tornar simples as complexas teorias dizia muito simplesmente que ao consumir os americanos estão a votar na Ford, na General Motors, na General Electric...
Uma das principais vertentes em que se funda o Estado-ficcional moderno, em plena crise da era mass-mediática - nos seus limites de final de século -, é precisamente o que se tem chamado a «cultura do consumo» que originariamente, no princípio do século, se definia em justaposição, por assim dizer, associando-se uma «teoria geral dos instintos» a uma teoria económica do consumo, e estas à «organização científica do trabalho» então proposta fundamental de Taylor, o que constituía no fundo a essência do «taylorismo».
Tentaremos, assim, ver até que ponto a partir das raízes do consumismo e dos seus desenvolvimentos posteriores, não estará o próprio dispositivo da modernidade em fase de reactualização, ou de crise radical e absoluta.
Sensivelmente a partir de 1920 constrói-se então o palco de novas dinâmicas sociais e em pano de fundo estão fundamentalmente esses artífices das paisagens consumistas modernas - os anunciantes, e claro, os publicitários. Repare-se que de 1918 para 1929 o volume de negócios bruto das revistas «grande público» sobe de 58,5 milhões de dólares para 196,3 milhões. Houve de facto uma resposta da indústria publicitária ao novo regime de trabalho em cadeia e aos novos ritmos de produção introduzidos na década de 10 por Henry Ford nos Estados Unidos da América.
Um facto fundamental é que a produção não obedecia propriamente às necessidades consumistas, à procura do gosto do público, mas sim à procura um tanto ou quanto selvagem do lucro, pura e simplesmente.
As estratégias modernas do aparelho de dominação da sociedade mass-mediática, passam assim, em primeiro lugar, em plena fase de maturidade do capitalismo industrial e da organização industrial da imprensa, pela teoria económica do consumo e pelas estratégias publicitárias, por um lado, e, por outro lado, por aquilo a que, de facto, Frederick Taylor chamava a organização científica do trabalho e, enfim, por tudo o que essa «teoria» anunciava: a emergência de um «novo» saber, profundamente positivista e maquínico.
«Harmonizar» o trabalho com o capital, tarefa facilmente levada a cabo, aliás, pelos profetas do consumismo no princípio do século, «prometer o céu» através das técnicas de persuasão da massa, e instituir uma nova legitimação revitalizadora da economia e dos novos processos de produção, esses eram, enfim, os principais objectivos das estratégias institucionais e de mercado na sua «terapêutica» dos idos anos 10 e 20.
É exactamente essa terapêutica de auto-realização que o discurso publicitário consagrará já em plena fase de industrialização das próprias agências de publicidade, nascidas, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, se bem que com um outro estatuto, na primeira metade do século XIX. A verdade é que a resposta dada pela «ordem simbólica», pela publicidade, à ordem produtiva e à hiper-racionalização das cadências, e até dos movimentos do corpo, era extremamente reduzida na «época de ouro» do taylorismo, por assim dizer.
Se o trabalho e a fábrica estavam já, pelo menos aparentemente, organizados de forma «científica», impunha-se com toda a certeza que as próprias estratégias de persuasão também o estivessem. É assim que subitamente uma «teoria geral dos instintos» vem dar resposta às novas cadências impostas por Henry Ford e por Taylor, isto é, ao que já se chamava a «tirania da máquina».
Curiosamente, ou não, é a psicologia social norte-americana, através de homens como Muensterberg e Watson, que vem dar um novo alento aos publicitários. A terapêutica consumista havia caído numa certa passividade, não surgiam «novos objectivos» capazes de motivar potenciais novos consumidores, enfim, os stocks que saíam em cada vez maior número das cadeias de montagem não escoavam no mercado. Urgia pois encontrar uma solução, e é da associação entre «behaviouristas» e técnicos da publicidade que nascem os processos de sedução e de solicitação do consumidor.
Em última instância, como veremos, são os próprios hábitos de consumo que mudam, diferentes que passam a ser os padrões de sociabilidade e a artificialidade dos novos valores de uso instituídos através dos media.
Só, portanto, cerca de cem anos após terem aparecido as primeiras agências - apenas reservadoras de espaço publicitário de início - é que as técnicas de persuasão se encontram estruturadas de acordo com as necessidades da oferta e do ritmo das novas cadências, isto é, com o tornar verdadeiras algumas falsas necessidades, com a criação de novos desejos, novos hábitos, remetendo constantemente o público para novos imaginários consumistas. Vender era então «civilizar», comprar era «educar-se». A publicidade moderna foi assim a resposta óbvia às necessidades desenvolvimentistas do capitalismo industrial.
Na era dos complexos sociais de poder - como Habermas definia os grandes consórcios que homens como Hearst e Pullitzer, nos EUA, ou Northcliff, em Inglaterra, tinham criado nos finais do século XIX, designadamente no domínio da imprensa, na era da expansão do capitalismo norte-americano, a publicidade ganhou, pois, um novo rosto: «Da mesma maneira que a expansão do imperialismo americano, para além das nossas fronteiras, assenta numa retórica da democracia, por um lado, e sobre um individualismo agressivo, pelo outro, assim a conquista dos espíritos (...) tomou caminhos de guerra, de movimento de conquista ofensiva de territórios sociais que os homens de negócios julgavam rapidamente civilizar» 5 .
A nova máquina publicitária, através da criação dos novos valores como o «prestígio», a «beleza» e o «ter», sempre em nome da democracia, e por detrás de uma ideologia fortemente consumista, minava, por assim dizer, a própria autonomia do consumidor. Tornava-se assim estrategicamente decisivo veicular a ideia de que o consumidor devia satisfazer as suas necessidades primárias, eufemismo que caracterizava no fundo as exigências reais e históricas da máquina capitalista emergente. Como referem Wightman Fox e Jackson Lears 6 para o caso dos Estados Unidos: os publicitários, «promising richer, fuller living through high-level consumption, invoking the talismans of 'efficiency' and 'personality' legitimized the transformation of male ideals from self-made manhood to salaried employment and of female ideals from guardianship of virtude to family management.»
Por detrás da nova máquina publicitária e das novas estratégias da acquisitive cognition, que diziam, no fundo, que a cultura do consumo não se limitava apenas à aquisição mas, também, ao conhecimento, por detrás desse grande dispositivo consumista estavam pois os sociólogos, publicitários, psicólogos sociais e inclusive escritores como Henry James, por exemplo. De facto, a mentalidade consumista nascente foi, em primeiro lugar, captada na sua plena dimensão nas últimas novelas de James e também nalguns outros trabalhos de membros da leisure class...
São os sociólogos funcionalistas, então a despontar como «classe» interventiva, são os economistas e os psicólogos, fundamentalmente, que se podem considerar os progenitores da nova mentalidade emergente e da organização «científica» das novas estratégias de mercado. Veja-se o caso de John B. Watson, profeta da negação da família e um dos fundadores da psicologia behaviourista nos EUA, psicólogo e publicitário, cuja tese fundamental tinha a ver com uma espécie de terapêutica social da publicidade: para ele, todas as satisfações, à excepção daquelas oferecidas pela economia de mercado eram simultaneamente «psicologicamente perversas e socialmente nocivas». Segundo a sua perspectiva a «instituição»-família deveria ser inclusive orientada em função das directivas ditadas pelas estratégias de mercado e não por quaisquer outras...
Outro caso é o do já referido Edward Filene, um dos principais ideólogos da mobilização consumista, grande capitalista e - paradoxalmente - fundador do movimento de defesa do consumidor. Entendia ele que, acima de tudo, na «era da Máquina», eram os homens de negócios quem, de uma forma «positiva», podiam fazer com que os revolucionários de outrora esquecessem as suas posições de classe e encontrassem na sociedade consumista a forma de sublimar pulsões que seriam perigosas caso fossem expressas de outra forma...
Outros, mais radicais, consideravam inclusive que o fenómeno publicitário, constituía, nessa medida, uma resposta ao bolchevismo! É o caso de Paul Nystrom, um dos fundadores da «teoria económica do consumo» dos anos 20. Nystrom considerava nessa altura, que caso o fenómeno concorrencial-consumista não vingasse, então não haveria outra alternativa a não ser a «socialização dos bens de produção».
Para fugir à «socialização» era assim necessário, para estes novos profetas, instituir a tirania consumista, controlar os desejos e as pulsões e submetê-los à nova ordem ditada pela produção em série.
«Consumo» era identificado, assim, com democracia e com liberdade, com «aquisição» e «conhecimento». Assim, uma das características fundamentais destas primeiras duas décadas do século, período em que decorre a radicação da nova mentalidade consumista é, com efeito, a emergência de um ideal democrático fortemente imbricado na acquisitive cognition e na homogeneização dos gostos e desejos consumistas, ideal que conduziria em última instância à própria ideia de homogeneidade nacional e à legitimação das instituições da sociedade da opulência.
O objectivo da máquina consumista e publicitária tinha sido assim atingido. Todo um conjunto de factores contribuía agora para que a antiga vida social pública e a velha ostentação novecentista, toda uma teatralidade das classes «ociosas» de então mudasse radicalmente, uma vez mudados com efeito os hábitos de consumo.
Se, por um lado, a cadeia de montagem se tornou, como defendeu Siegfried Giedion 7 , o símbolo do período entre as duas guerras, por outro lado, é óbvio que a máquina publicitária consumista não deixou de caminhar em paralelo com a própria máquina de guerra e de propaganda. Daí, até, a relação de captura comum aos dois campos e aos seus objectos. O próprio Taylor havia defendido, aliás, no princípio do século, na sua organização científica do trabalho, um sistema racional e uma organização de tipo militar.
Por outro lado, o próprio corpo humano era objecto de estudo no sentido de se ver até que ponto seria possível transformá-lo em «máquina» - ou, pelo menos, levá-lo ao limite das suas possibilidades, fazendo com que todos os movimentos supérfluos desaparecessem, não só por uma questão de eficácia, como era dito na altura, mas também para facilitar o trabalho...
Taylor chegou a propor o princípio do «scientific menagement», ou seja, a necessidade da organização científica do trabalho ser aplicada a todas as esferas do social: «na organização das nossas casas, das nossas quintas, das empresas dos comerciantes, das igrejas e dos ministérios» com vista ao aumento da «produtividade mecânica» 8. Daí terem havido experiências concretas neste domínio, quer em ligação com a psicologia experimental, quer em relação aos estudos do movimento. Com Muensterberg foram feitas experiências e testes relacionando a psicologia, a organização científica do trabalho e o desenvolvimento industrial, com a publicidade e o marketing. A anterior proposta de Taylor de «extinção dos movimentos supérfluos» teve como dignos continuadores o casal Frank e Lilian Gilbreth através dos seus motion studies, onde se propunham substituir os movimentos desnecessários por movimentos mais curtos e menos fatigantes fundamentados em unidades de movimento - threabligs - e nos «ciclogramas», que eram representações gráficas do desenvolvimento do movimento espacial dos membros anteriores em laboração. Para Gilbreth, o operário a quem assim se dava a possibilidade de ver os seus próprios gestos numa representação espacio-temporal deveria tornar-se um motion minded, isto é, um obcecado pelo movimento, até atingir o «movimento perfeito».
Estavam pois reunidas as condições para transformar a sociedade de consumo numa perfeita máquina de guerra adaptada ao combate para dominar o espaço social de consumo. A ordem consumista é pois reforçada nas suas vertentes discursiva e organizativa. Reforçado era também o domínio sobre o espaço público em começo de desagregação, devido, fundamentalmente, à emergência da televisão e à constante agressão do social com renovadas propostas gratificantes de um mundo de sedução e fascínio, onde consumir era (é), de algum modo, obter uma certa felicidade individual. Em termos da estratégia de mercado, a publicidade continuava assim a ser a melhor resposta à «saturação» dos ciclos de necessidades elementares bem como à superprodução e à obsolescência.
Desde princípios do século, portanto, que os captains of counsciousness, os logocratas da publicidade, tinham traçado as grandes linhas da paisagem social americana. A partir da década de 50 o regime de consumo ostentatório dos anos 20 «democratiza-se», por assim dizer, com a emergência da televisão, agora verdadeiro «agente do espírito consumista», permitida que tinha sido a publicidade nas emissões. As receitas de publicidade, naturalmente, vão acompanhar a progressão louca do parque de receptores. Nos Estados Unidos, entre 1948 e 1960, o total de receptores subiu cerca de 2,6 milhões para 55,6 milhões de aparelhos, tendo as receitas publicitárias, no mesmo período, subido de 9,8 milhões de dólares para 1,5 biliões. No princípio da década de 70, ainda nos EUA, há em média um televisor por cada habitação.
É portanto na década de 50 que a televisão passa a ser o principal veículo do dispositivo publicitário e, de facto, o garante da imposição das normas de conduta colectivas. Não esqueçamos que, como alguém disse, «a televisão existe não para produzir programas mas sim para produzir públicos». E o público americano vai ter então pela primeira vez na sua frente, através dessa «janela sobre o mundo», e duma forma «homogénea» e «nacional» a verdadeira miragem da sociedade da abundância, da perversamente chamada sociedade da opulência.
É aliás no final dos anos 50 que os americanos lançam a sua grande ofensiva europeia. Georges Beaumont, vice-presidente da Benton & Bowles chega a Paris com o objectivo de lançar na Europa o seu grande cliente - a Procter & Gamble. «Na época era quase impossível encontrar em França uma agência suficientemente profissional e sofisticada para a B&B. Tinha proposto a Dorland (depois Gray) mas esta agência não tinha sequer director criativo. Por outro lado, cada dirigente era o seu próprio patrão e não era de ânimo leve que receberiam a notícia de serem comprados ou submetidos a alguém...», dizia Beaumont.
Uma nova (velha) concepção que emerge concretamente nos EUA, ligada também à fase mais avançada da indústria publicitária, tem a haver com a ideia de «homogeneidade nacional» que neste caso se poderá traduzir pela criação de uma identidade sobretudo no consumo e de uma uniformização do gosto. Tratava-se aliás de um conceito já existente, mas que só vem a ter aplicação efectiva já em meados dos anos 80. Na sua The History and Development of Advertising, Frank Presbrey anunciava já: «É à extensão das campanhas publicitárias a todo o país que se atribuiu recentemente o progresso da identidade nacional. Elas trazem uma similitude de pontos de vista que apesar da mistura étnica, é mais pronunciada nos EUA que nos países europeus em que a população pertence geralmente a uma mesma raça, parecendo mais fácil de homogeneizar» 9 . Essa ideia tem aliás vindo a consubstanciar-se no plano das estratégias institucionais das networks norte-americanas, que já viabilizam «tempos de antena» televisivos durante as campanhas eleitorais, como acontece nos serviços públicos de televisão na Europa. Mas, de facto, na década de 80 ainda não era assim. Recorde-se o que aconteceu com a campanha de Ronald Reagan, na sua recandidatura de 1984: um filme de nada mais nada menos que 5 minutos passava nas três grandes cadeias de televisão na mesma noite de domingo, com um orçamento para compra de espaço, na altura, da ordem dos 70 mil contos.
Em síntese, todo o sistema filosófico consumista e seus ideólogos reduzia-se à expressão arquétipo de Edward Filene que fazia corresponder o ideal democrático à sociedade americana e identificava consumo com liberdade e «educação». A partir de agora, com a televisão, o regime de consumo democratizava-se efectivamente e em termos transnacionais. Mais do que democratizar-se, homogeneizava-se, o que permite, finalmente, interrogarmo-nos sobre as obscuras encruzilhas existentes entre o conceito da sociedade representativa-liberal, surgida dessa esfera avançada do capitalismo industrial, e a modelização consumista-cultural do «império» norte-americano.
Hoje, a publicidade, através do novo discurso publicitário vindo dos «técnicos do saber prático» de que falava Sartre, assimilou modelos da contra-cultura, do feminismo e inclusive da defesa do consumidor. Pode falar-se inclusive, neste final de século, de um autêntico regime espectacular no discurso publicitário. Veja-se o exemplo das eleições legislativas francesas de Março de 1986 através de um artigo publicado na imprensa portuguesa: «Quando em meados de Janeiro, Gunilla recebeu um telefonema da agência de manequins que a emprega, anunciando-lhe - «'Temos um emprego para ti, vais estrear-te numa enorme campanha publicitária em toda a França,' ela saltou de alegria. A jovem sueca, desembarcado em Paris quatro meses atrás, para tentar a sorte como modelo, via chegada a sua hora de glória. (...) Como de costume, ninguém se deu ao incómodo de a informar para quem trabalhava, apesar da curiosidade suscitada pelas duas espigas de trigo que lhe mandaram encostar ao rosto, seria para uma marca de pão ou para um cosmético? Ao sair do metro, uns dias mais tarde, deu com a resposta - uma enorme fotografia sua, ao lado da legenda.- 'Quero recolher o que semeei à esquerda' fazia-a passar por uma simpatizante do Partido Socialista Francês, consciente e determinada'» 10 ...
Em paralelo com o crescimento económico do pós-guerra emerge um Estado-providencial e ficcional, um Estado-espectáculo, em última instância, centralizador de serviços, organizador social, simultaneamente anunciante e consumidor. Sob a aparente pulverização das centrais de massificação escondem-se agora verdadeiros impérios do imaginário consumista moderno, sejam eles a Madison Avenue ou o Estado-publicitário. Veja-se nomeadamente o caso francês, idêntico a muitos outros caso na Europa, onde o próprio Estado foi o primeiro anunciante - através da administração, dos serviços públicos e das empresas nacionalizadas, por intermédio do grupo Eurocom - e o primeiro administrador de espaço, por intermédio da Havas.
A agência Havas, cuja maioria de capital pertenceu ao Estado francês, foi com efeito a que mais espaço publicitário vendeu em França ao longo da década de 80. Aliás, já em 1934, cem anos após a sua criação, Léon Blum dizia que esse grande monopólio que era a Havas tinha deixado de servir os ministérios para os submeter a si - de prestadora de serviços ao Estado passou a «exigir» serviços dele... Giscard d'Estaing chegou a colocar à sua frente um dos seus principais colaboradores - Yves Cannac - num lugar que se poderia equiparar quase ao de um ministro da comunicação. Mitterrand, aliás, seguir-lhe-ia o exemplo. De facto chegou a ter em França um quase monopólio da informação. «L'état Providence est devenu l'État carnivore», diria Philippe Calleux (PDG da GRP, ao tempo)...
Hoje, somos obrigados a reconhecer, com Jean Baudrillard, que se a publicidade desaparecesse a nossa frustração não seria sobre o modo de informar mas sobre o modo de seduzir: «A publicidade evita-nos a pesada responsabilidade de fantasmar e de representar o mundo (...) ela tem qualquer coisa de vertiginoso e de fascinante (...) é a utopia do imaginário materializado, pondo assim fim ao próprio imaginário» 11. Sem a publicidade seríamos certamente seduzidos por imaginários míticos, religiosos, folclóricos, um imaginário-outro, mas certamente oposto ao imaginário consumista. Sem a publicidade e as suas propostas gratificantes de um mundo de sedução e fascínio, de um mundo que diz satisfazer as necessidades individuais e colectivas, faltaria também, sem dúvida, esse «elemento pitoresco», distractivo, do quotidiano. Como alguém disse, uma cidade sem cartazes, sem inscrições de parede, sem publicidade nas ruas, assemelha-se de facto a um bunker totalitário.
Michel Tournier, mais consensual, diria: «Nous vivons, hélas, dans une société sans odeur, sans saveur, sans contact physique, tout est pur regard! La publicité c'est le contraire c'est un véritable éloge de Ia vie, du corps, de la beauté. C'est la seule fissure par laquelle passe un tout petit peu d'érotisme, chose absolument proscrite à la télévision, dont Ia morale est - faites la mort, ne faites pas l'amour. » 12 .
E, na verdade, o certo é que após a emergência da televisão e dos novos media, e consequente redimensionamento do dispositivo comunicacional moderno, agora em plena sociedade info-comunicacional, nomeadamente nos países mais desenvolvidos, temos vindo a assistir, em termos de espaço público, a uma radicalização do processo de desintegração da esfera pública (e natural refortalecimento da esfera intimista), e, no plano simbólico, a uma radicalização do processo de «desertificação» do real com aquilo a que Baudrillard chamou a «precessão dos simulacros».
As imagens de síntese, a era do digital, os novos duplos que aguardam as suas hipertelias, um tanto paradoxalmente podem encontrar na própria publicidade não o lugar da sua reificação «maligna» mas o espaço de todas as insolvências e de todos os perdões.
Notas:
1 Victoroff, David, A Psicossociologia da Publicidade, Moraes, Lisboa, p. 13
2 Tengarrinha, J.M., Hstória da Imprensa Periódica em Portugal, Caminho, Lisboa, p. 201.
3 «Note sur le pouvoir publicitaire, Revue Française de Sociologie, Vol. XX, nº 4, Oct-Déc. 1979, pp. 733-745.
4 Ewen, Stuart , Des Consciences sous Influence, Aubier-Montaigne, Paris, p. 87.
5 Ewen, op. cit, p. 89.
6 Wightman Fox e Jackson Lears, The Culture of Consumption - Critical Essays in
American History, 1880-1980, New York, Pantheon Books,1983, p.XIV.
7 Giedion, Siegfried, La Mécanisation au Pouvoir, Centre Georges Pompidou, Paris, 1980.
8 Giedion, op. cit., p. 100-114
9 Citado por Ewen, op. cit., p. 53.
10 «Imagens do mercado eleitoral», Ana Navarro Pedro, Expresso, 1 de Março de 1986.
11 Jean Baudrillard, entrevista à Autrement, nº 53, Paris, 1983.
12 Michel Tournier em entrevista a Guitta Pasternak, Le Monde, 12-13 de Agosto de 1984.