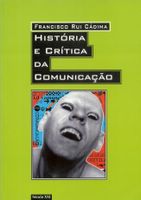Se o paradigma de McLuhan é pobre, o seu sintagma é rico (Edgar Morin)
É nos anos 40 que a análise sociológica da comunicação de massa toma corpo, nomeadamente nos Estados Unidos da América, com a investigação quantitativa dos efeitos dos media. Prosseguiu depois, logo após a II Guerra Mundial, entrando nos domínios do processo de comunicação, analisando os mecanismos lineares da transmissão da mensagem.
Praticamente só nos anos 60 os investigadores europeus, já sob um ponto de vista sociocultural, começaram a abordar os fenómenos da comunicação de massa, sendo dada a partir daí uma importância cada vez maior às funções do emissor e do receptor, isto é, aos «dois protagonistas do acto de comunicação», como Roman Jakobson sintetizou na sua então muito citada conferência da Universidade de Indiana, em 1952 1.
Inicialmente, o acto de comunicar era descrito, na sua forma mais simples, num esquema em que se colocava um agente emissor enviando uma mensagem para um público passivo. Este modelo, um tanto rudimentar, foi necessariamente evoluindo. Em 1948, enquanto Jakobson prossegue os seus estudos no campo linguístico, considerando que cada unidade linguística estava bipartida e comportava dois âmbitos - um sensível e o outro inteligível - de um lado o signans - o significante de Saussure - do outro lado o signatum - o significado 2, no âmbito da teoria da comunicação o processo, em toda a sua extensão, é decomposto por um professor de Direito da Universidade de Yale, Harold D. Lasswell 3 .
O modelo por si proposto, inscrevia-se num tempo de pesquisas em que se começou a observar um alargado estudo do fenómeno da comunicação aos diversos níveis, desde a produção da mensagem aos seus efeitos sociais, passando pelos canais de transmissão e pelo conteúdo da própria mensagem.
O paradigma de Lasswell propunha a divisão do processo de comunicação em cinco partes: Quem (emissor) diz o quê (mensagem) através de que meio (media) a quem (receptor) e com que efeito (impacte).
Ainda no ano em que Lasswell apresenta o seu paradigma dos efeitos (ao fim e ao cabo baseado na sua fórmula "Politics: who gets, what, when, how?"), título de uma sua obra de ciência política publicada em Nova Iorque em 1936), dois matemáticos norte-americanos publicavam aquilo a que chamaram a «teoria matemática da comunicação». Tratava-se aqui, obviamente, de informação quantitativa, a qual remetia exclusivamente para mensagens denotadas. Os autores desta nova teoria, Claude Shannon e Warren Weaver, acabaram por descrever o processo de comunicação com uma maior precisão, agregando, por assim dizer, ao modelo elementar, as componentes de transmissão da mensagem, isto é, a transformação da mensagem em sinal susceptível de ser transmitido pelo canal, e ainda a fonte de ruídos 4 .
A grande utilidade desta teoria foi, como notou Jean Cloutier, distinguir claramente os canais de transmissão das mensagens que eles próprios comportam 5. Mas vejamos esquematicamente como estava organizada a teoria matemática de Shannon e Weaver: Fonte de informação (produtor da mensagem) - transmissor (função de codificação técnica) - canal (meio de transmissão) - receptor (que é nessa teoria exclusivamente técnico) - destino (destinatário, pessoa). A fonte de ruídos, ou seja, qualquer obstáculo à transmissão normal da mensagem (acção sobre o canal transmissor, mas também sobre qualquer outro dos factores), era a nova proposta deste modelo da 'teoria da comunicação' de então.
Estamos pois perante casos em que o receptor já não é passivo. Assume, portanto, a sua função decifradora, cabendo-lhe captar a mensagem a partir do código comum utilizado no processo de comunicação. Entre o grupo humano emissor - que produz o sinal, ou a mensagem - e o grupo ou indivíduo que a recebe, está a própria mensagem, como objecto com autonomia estrutural, seja a sua expressão icónica, verbal ou sonora.
Mas voltemos a Jakobson: «Dans l' étude du langage en acte, la linguistique s'est trouvée solidement épaulée par le développement impressionant de deux disciplines parentes, la théorie mathématique de la communication et la théorie de l'nformation. Les recherches des ingénieurs des communications n' étaient pas au programme de cette Conférence 6 , mais il est symptômatique que l'influence de Shannon et Weaver, de Wiener, de Fano, ou de l'excellent groupe de Londres, se soit retrouvée dans pratiquement tous les exposés. Nous avons involontairement discuté dans des termes comme codage, décodage, redondance, etc., Quel est donc exactement la relation entre la théorie de la communication et la linguistique? Y a-t-il peut-être des conflits entre ces deux modes d'approche? En aucune façon, Il est un fait que la linguistique et les recherches des ingénieurs convergent, du point de vue de leur destination».
Como via Jakobson esta proximidade conceptual das duas teorias? Na Conferência de Indiana, a que temos estado a fazer referência, ele parte do princípio elementar de que todo o acto de comunicação coloca em jogo uma mensagem e quatro elementos que lhe estão ligados: o emissor, o receptor, o tema da mensagem (topic) e o código utilizado. Considera depois que sem um código comum ao emissor e ao receptor não é possível a troca das mensagens. Dez anos mais tarde, num artigo intitulado "Linguística e Teoria da Comunicação" 7, Jakobson volta a abordar este assunto, agora de uma forma mais clara: «L' ingénieur admet que l'émetteur et le receveur d'un message verbal ont en commun à peu près le même 'système de classement' de possibilités préfabriquées, et, de là même manière, la linguistique saussurienne parle de la langue qui rend possible l' échange de parole entre les interlocuteurs». Portanto, do mesmo modo que sem o código não circula a mensagem (ou sem a língua não é possível a troca da palavra), também toda a comunicação será impossível na ausência de um certo repertório de possibilidades preconcebidas, referência directa de Jakobson a D. McKay, um dos engenheiros mais elogiados na abordagem das dicotomias saussurianas.
É de facto a dicotomia código-mensagem, existente em ambas as disciplinas, que as faz corresponder, nomeadamente na interacção entre os dois factores. A descoberta pela linguística do princípio dicotómico (que está na base de todo o sistema dos traços distintivos da linguagem - os morfemas), tem o seu equivalente na unidade de medida informacional de Shannon e Weaver, os chamados bits (binary digits). Como referia Jakobson: «Quando os engenheiros definem a informação selectiva de uma mensagem como o número mínimo de decisões binárias que permitem ao receptor reconstruir aquilo que ele deve apreender da mensagem sobre a base de dados já à sua disposição, esta fórmula realista é perfeitamente aplicável ao papel dos traços distintivos na comunicação verbal» 8 .
O bit é assim a unidade que mede não a própria informação mas o número de sinais que a sua transmissão exige, segundo um sistema binário de numeração que utiliza somente os símbolos 1 e 0. Assim, uma quantidade de informações representa um bit se consistir simplesmente em operar uma selecção entre 1 e 0, entre sim e não; é a informação mais simples que se possa imaginar, aquela que conduzirá à opção entre dois casos. Wilbur Schramm é outro importante teórico desta fase. A sua obra, nos domínios da comunicação de massa, teve a sua importância antes de McLuhan, por exemplo, a que nos referiremos.
Quanto ao processo de comunicação, Schramm vem dar uma renovada importância à questão da codificação e da descodificação da mensagem aparecendo, por exemplo, pela primeira vez, a noção de feed-back, isto é, o fenómeno de retroacção numa cadeia interactiva que alinha pelo mesmo diapasão códico, digamos assim. Schramm avançava desde logo a hipótese tão explorada hoje pelas grandes cadeias de televisão norte-americanas, bem como pelos sistemas de cabo, do emissor corrigir a sua própria mensagem em função de reacções induzidas. Por fim Schramm inspira-se nalguns dos pressupostos de Lazarsfeld, propondo o seu "circuito" da mensagem, através dos grupos sociais, do receptor para o grupo, do leader de opinião para o seu público 9.
Destes esquemas lineares criados nos Estados Unidos da América nos anos 40 e 50, passemos agora aos primeiros esquemas culturais europeus nomeadamente franceses, dos anos 60. Edgar Morin, com o seu livro L'Esprit du Temps 10 é um dos primeiros teóricos europeus a sistematizar de uma forma inovadora aquilo a que chamou a lndústria Cultural, ou também mass culture, para retomar o estranho neologismo da corrente sociológica americana. Morin via no modelo burocrático-industrial um verdadeiro obstáculo ao poder cultural do autor: «A concentração técnico-burocrática pesa universalmente sobre a produção cultural de massa. Donde, a tendência para a despersonalização da criação, para o predomínio da organização racional da produção (técnica, comercial, política) sobre a invenção, para a desintegração do poder cultural» Ou ainda: «A contradição ínvenção-padronização é a contradição dinâmica da cultura de massa». Com Morin surge ainda a separação de conceitos como produção e criação: «O criador, isto é, o autor, criador da substância e da forma da sua obra, emergiu tardiamente na história da cultura: é artista do século XIX. Ele afirma-se precisamente no momento em que começa a era industrial. Tende a desagregar-se com a introdução das técnicas industriais na cultura. A criação tende a tornar-se produção».
No fundo, em relação ao processo de comunicação, Morin propunha uma relação a três elementos, individualizando a criação, opondo-a inclusive à produção padronizada, sendo esta a zona não-marginal da indústria cultural isto é, a tradução no consumismo, o triunfo da organização racional da produção sobre a invenção, com tudo o que daí deriva em termos de uma luta renovada pela individualização e pelo novo: «A relação padronização-invenção nunca é estável nem parada, modifica-se a cada nova obra, segundo relações de força singulares e detalhadas. Assim, a nouvelle vague cinematográfica provocou um recuo real da padronização».
Pierre Schaeffer 11 vem introduzir novos conceitos ao modelo embora não venham a ter importância para a evolução do estudo do processo de comunicação: o mediador será o artesão ou o manipulador do meio. Chama às influências exteriores os "meios autorizados" (Shannon havia-lhes chamado "ruído") e acaba por colocar o mediador-criador no centro do seu sistema de comunicação. A mensagem perde aqui, portanto, a sua posição central no modelo, perdendo mesmo o seu valor em todo o processo, passando o mediador-produtor a ocupá-lo.
Com a publicação da Sociodynamique de la Culture, de Abraham Moles 12, a cultura é vista como uma entidade globalizante, permitindo através de uma aproximação 'pancibernética' unificar o fenómeno cultural com o dos media. Distingue a cultura 'individual' (a soma da educação e da experiência de cada indivíduo no domínio do conhecimento) da cultura 'colectiva', ou cultura de uma sociedade, caracterizada por aquilo a que se poderia chamar a intertextualidade do grupo social, a sua rede de conhecimentos, segundo a expressão de Moles. Esta concepção era analisada, aliás, anos depois, por Edgar Morin 13 : «(...) privilegia o aspecto "semântico" da cultura, sendo a estética concebida exclusivamente do ponto de vista das "mensagens", como expressão do campo de liberdade em volta de cada signo normalizado. Em Moles o importante é o 'ciclo sócio-cultural' a partir das estruturas permanentes da comunicação de massa», acrescentava Morin. Este ciclo tem obviamente uma velocidade de rotação. Nele vamos encontrar as unidades de significação - semantemas - e as unidades de forma - os morfemas, veiculados pelos canais de transmissão, isto é, os meios, que difundem o fluxo de mensagens. Os elementos veiculados - cultura viva e/ou cultura adquirida -, ainda segundo Morin, «tomam forma e significado a partir de um micro-meio criador, transforma-se em produtos culturais através dos mass-media e chegam a um macro-meio consumidor (a massa, da qual fazem parte os próprios criadores).»
Esta doutrina dinâmica do processo de comunicação, espécie de 'mosaico' da cultura moderna, comporta ainda múltiplos elementos secundários, alguns tomados a Shaeffer, outros a Morin, e é todo esse conjunto que nos dá o amplo e complexo circuito ''cibernético'' de Abraham Moles. Mais simples era o modelo de Jakobson: «Le destinateur envoie un message au destinataire. Pour être opérant, le message requiert d'abord un contexte auquel il renvoit (c'est ce qu'on appelle aussi, dans une terminologie quelque peut ambigue, le "référent"), contexte saisissable par le destinataire, et qui est, soit verbal, soit susceptible d'être verbalisé; ensuite, le message requiert un code, commun, en tout ou au moins en partie, au destinateur et au destinataire (ou, en d'autres termes, à l'encodeur et au décodeur du message); enfin, le message requiert un contact, un canal physique et une connexion psychologique entre le destinateur et le destinataire, contact qui leur permet d'établir et de maintenir la communication 14 .
E chegamos a McLuhan. Nos anos 60, e de maneira diferente, Marshall McLuhan e Herbert Marcuse fazem com que a polémica sobre a sociedade de massa atinja um dos seus pontos mais altos. Cada um à sua maneira, um "mágico", outro "apocalíptico", analisam os media como detentores de um poder tanto perigoso (Marcuse) quanto revolucionário (McLhuan).
Umberto Eco reconheceu desde logo faltarem nestes teóricos os momentos de análise e o exame dos documentos: «(...) Faltam exactamente porque, os dois autores, cada um a seu modo, decidiram que sobre a análise dos documentos já se debruçaram demasiado e até com risco de perder de vista o panorama total» 15 . McLhuan adverte-nos - continua Eco: «É inútil analisar os conteúdos das comunicações de massa, aquilo que é transmitido através dos vários meios, porque são os próprios meios, com a sua natureza específica, o seu modo de solicitar respostas comportamentais, de favorecer mutações conjuntas, que constituem a primeira das mensagens. É inútil perguntar-se como este ou aquele grupo humano reage à televisão ou à publicidade porque aquilo que conta é o conjunto das respostas e o conjunto das respostas dá-nos um Homem diferente, que sente o mundo inteiro sob a própria pele, entra em contacto táctil com os acontecimentos distantes, vive todo o universo das comunicações como uma grande e feliz alucinação colectiva, na qual, e depois da qual não será nunca a Homem que era dantes».
Esta importância que McLhuan dá aos media e ao seu dispositivo, em oposição à mensagem, é desqualificada, por exemplo, sempre que não é encontrado destinatário no processo de comunicação. Nessas circunstâncias a sua fórmula the media is the message é completamente anulada, por extravio da mensagem, por assim dizer. De facto o seu modelo sé é válido, isto é, o media só "existe", sempre que tiver campo de recepção (Jakobson: «não há emissor sem receptor»). Morin, que já havia respondido ao paradigma mcluhaniano, referiu-se a esta questão de uma outra forma. «Examinemos o problema da recepção ao nível da teoria da ínformação. Que diz ela? A informação corresponde àquilo que traz um elemento novo ao conhecimento, àquilo que provoca uma certeza ou liberta uma incerteza. Mas o puro desconhecido não existe e toda a informação se deve enxertar naquilo a que a teoria chama a redundância e a que eu chamo uma estrutura de pensamento. Se a informação não for introduzida numa tal estrutura não será apreendida como tal: será negada ou esquecída 16 ». Ainda Morin: «La formule de Lasswell 'qui dit quoi, à qui, par quel medium et avec quel effet' morcelait le système des communications de masse et désintégrait toute notion de culture de masse. McLhuan ramène les termes lasswelliens au "médium'' qui non seulement englobe le 'quoi' ('le medium est le message'), mais englobe les deux "qui" dans une unité anthropologique: l'homme. Le medium technologique est toujours le prolongement d'un sens ou d'une faculté de l' homme; donc, le message, c'est, en acte, ce prolongement modificateur de la dialectique sensorielle-psychique 17.»
Se o aforismo mclhuaniano é, em termos de teoria da comunicação, redutor e polémico, a resposta que Edgar Morin lhe dá, colocando-o nos domínios da 'antropologia sensorialista' e da epistemologia, vem clarificar um pouco mais a questão. Em todo o caso, o aforismo the media is the message poderia ter despoletado, de algum modo, uma clarificação do velho modelo do processo de comunicação. Aqui, de facto, não estamos de acordo com o que um prestigiado crítico de televisão norte-americano, Michael Arlen, publicou no final dos anos 60 sobre o polémico mcluhanismo, dizendo que os seus aforismos tinham tido como principal resultado a 'diminuição da discussão'... Talvez que isso, nalguns casos, até fosse verdade... «A lot of people, I know, are down on him these days, because he's been so much in the public eye (...) and because, they say, he's inconsistent, which he is, and often wrong, which he is, and unfunny, which he certainly is, and even (they say) unoriginal. The thing is, about fifteen years ago, when McLuhan - then, as now, a teacher of undergraduate English courses - began writing about print and type and communications and media. He didn’t claim to be entirely original. Most of these notions about print and type and western man had been written about for a number of years by a number of people (even though the editions of Life may not have been reading them then). What McLuhan did that was original was to put them together in a new way and add a sort of twist of his own that gave them relevance and expensiveness (...). These days I get the feeling that the principal result of what he writes and speaks has been to diminish discussion. When he touches something ("the technology of the railway created the myth of a green-pasture world of innocence". "Pop Art simply tells you the only art form left for you today is your own natural environment"), he seems to do it in such a way that although there's often substance or interest in his thought, the effect is somehow to close the subject off, to leave it in the end (despite the aphorist crackle) more dead then alive 18.»
De alguma maneira McLuhan coloca em evidência a antropo-história (o meio como extensão do homem) e nesse sentido a mensagem não é mais senão uma também extensão fortuita, sensorial, no processo de comunicação, e não o objecto de comunicação. Mesmo aqueles que consideram que o aforismo significa, ao fim e ao cabo, que o conteúdo do que é comunicado importa menos do que o modo como é feito, não estarão certamente seguros de que tenha sido a partir daí que se passou a dar uma renovada importância à especificidade do meio 19 .
Tido como «o mais proeminente discípulo» de Harold Adams lnnis 20, Marshall McLuhan, cuja obra tentaremos agora analisar naquilo que tem de mais pertinente, foi, na segunda metade dos anos 80, uma referência implícita óbvia, ainda que na maior parte das vezes cuidadosamente evitada, por parte dos seus quase-epígonos, que, dir-se-ia, proliferam nas ciências sociais como seus prolongamentos e/ou desenvolvimentos. Essa será, porventura, a melhor homenagem que se lhe poderia prestar.
Numa leitura transversal dos seus textos essenciais passaremos necessariamente por cima da sua fase de crítica literária, após formação superior em engenharia (1934), correspondendo aos anos 30/40; veremos, de passagem, a sua 'fase de transição' - anos 50 - altura em que publica The Mechanical Bride e insistiremos sobretudo nas suas produções dos anos 60, período em que publicou as suas obras de maturidade.
O eixo do seu pensamento, por assim dizer, centra-se em dois aforismos fundamentais: um, o conhecido the medium is the message; o outro, o de que é a natureza dos meios, as tecnologias da comunicação propriamente ditas - e não o modo de produção, como bem referiu Harold lnnis, que informa, estigmatiza e estrutura o modelo das sociedades - e, portanto, acrescentaríamos nós, a própria história.
Isto mesmo nos parece estar claramente presente quando McLuhan pergunta porque é que Marx não apanhou o comboio da comunicação. No fundo, como escreveu Harold Rosenberg 21 , McLuhan substituiu o 'fetichismo das mercadorias' de Marx pelo fetichismo dos media para explicar as diversas crenças que dominaram o homem nas diferentes épocas.
The Mechanical Bride é, sem dúvida, algo mais do que apenas uma 'obra de transição'. Devido à sua curiosa apresentação, com imagens, jogos de composição, um lettering sugestivo, houve quem lhe chamasse inclusive 'pop art avant-Ia-lettre'. Para McLuhan, no entanto, tratar-se-ia, no fundo, de uma 'obra obsoleta' em plena era da televisão: 'Voilà bien des années, avant que j'écrive The Mechanical Bride, je me plaçais à un point de vue moral pour apprécier les faits de mon environnement. J'abominais le machinisme, les grandes villes, à peu près tout, à l'exception de certaines choses qui auraient été du goût de Rousseau. Peu à peu je me suis rendu compte à quel point c'était inutile. Je me suis aperçu que les artistes du XX ème siècle voyaient les choses différemment - et j'ai fait comme eux' 22 . Este, com efeito, o tempo em que McLuhan tinha em cima da sua secretária um cartão com os dizeres 'Especialistas: abstenham-se!'...
Concretamente, The Mechanical Bride marca a sua primeira abordagem - extremamente crítica, nalguns casos - da questão comunicacional. Inspirado provavelmente nas 'máquinas' eróticas de Duchamp e tendo como imagem obsessiva essas criaturas híbridas, metade mulheres, metade máquinas, McLuhan mergulha aqui claramente no maelström - à semelhança do marinheiro de Edgar Allan Poe - estabelecendo um duro diagnóstico do 'folclore do homem industrial', nomeadamente no que diz respeito à indústria e ao discurso da publicidade, aos comics e às sondagens. Atinge inclusive as raias do paroxismo quando a propósito de um dos principais 'símbolos' da América, publicitado num cartaz com uma "doce, inocente e belíssima jovem', diz o seguinte: 'A doce e inocente rapariga não vos fará provavelmente mal nenhum, mas o mesmo não acontecerá com a Coca-Cola. Na próxima vez que tirem um dente metam-no num copo de Coca-Cola e observem-no dissolver-se durante alguns dias'...
É fundamentalmente nos anos 60, concretamente a partir de A Galáxia de Gutenberg, que McLuhan desenvolve uma análise alargada, de características histórico-culturais, à emergência da escrita e da tipografia, análise essa que viria a ter como que uma fundamentação teórica cristalizada em esparsas formulações, nos seus postulados, de pendor claramente epistemológico, cuja pertinência, neste caso concreto, até por derivarem já de lnnis, nos parece menos discutível do que o restante da sua obra.
Para essa fundamentação concorrem, portanto, e nomeadamente, Harold lnnis, por um lado, e, por outro, o antropólogo Edmund Carpenter, que edita juntamente com McLuhan a partir de Dezembro de 1953 a revista Explorations 23 , onde muitas das suas teses mais conhecidas começam a surgir em esboço, se bem que subscritas por ambos.
A Galáxia de Gutenberg, no fundo, é uma circunstanciada análise daquilo que o autor designa por estado de catalepsia, de numbness, em que a tecnologia tipográfica fez mergulhar o Ocidente. Para McLuhan, Gutenberg encerra em si, de alguma forma, o "pecado original" fundador da modernidade e da civilização industrial. Tudo se passa, no fundo, a dois tempos: em primeiro lugar, McLuhan observa a transição de uma cultura tribal, fechada, estável, modelada para um espaço acústico, de relações totais e simultâneas, para uma cultura destribalizada, 'visual', transição que corresponde à quebra do 'círculo encantado" e da multiplicidade, isto é, à emergência do homem alfabetizado, de consciência fragmentária, de experiência empobrecido, à emergência, portanto, do processo de individuação e especialização, primeiros sintomas do desequilíbrio que, na sua perspectiva, atingiu a sociedade moderna.
Num segundo tempo, ter-se-ia completado o processo de alienação do homem, sobretudo do 'homem' como sublinha McLuhan e não tanto da mulher, porque ela 'é a última criatura a ser civilizada pelo homem' conforme escrevia Meredith em 1859 (citado por McLuhan, 1962: 288), ela mantém com efeito a figura da alteridade uma vez que a seu processo de fragmentação e especialização é tardio. Assim, 'a invenção da tipografia confirmou e fez alastrar a nova tendência visual do conhecimento, dando origem à primeira utilidade (commodity uniformemente reproduzível, à primeira linha de montagem e à primeira produção em série' (1962: 176). A tipografia vem pois reforçar o culto do indivíduo e da 'publicidade', do que é público, o I am / eye am simultaneamente cartesiano e newtoniano, bem como reforça o processo de radicação das línguas nacionais e da ideia de nação. Nacionalismo, industrialismo e mercados de massa são ainda consequências da extensão tipográfica do homem, da mesma maneira que o são a exigência da 'uniformidade social e a fragmentação individual que encontram a sua expressão natural no Estado-Nação' (1977: 45).
Num como noutro caso são óbvias as interacçóes entre tecnologias e civilização, já que a sua definição de medium comporta também a componente tecnológica e os seus prolongamentos enquanto extensões dos sentidos e, claro, do humano. Chegados aqui, é óbvio que McLuhan não apresenta nenhuma inovação de fundo relativamente a Harold lnnis, para quem o advento e o declínio das grandes civilizações, e as mudanças culturais, deveriam ser entendidas, em primeiro lugar, em função do meio de comunicação e das tecnologias predominantes. lnnis considerava, em síntese, que os media da Antiguidade eram mais propícios a um controlo no tempo do que no espaço. As sociedades antigas tinham assim tendência a insistir sobre o sagrado e a moral e a criar regimes políticos hierarquizados que reprimiam o individualismo. Pelo contrário, os media cujo 'biais' se centra sobre o espaço facilitam a emergência de instituições seculares, o desenvolvimento da ciência e a administração dos grandes territórios, condições que favorecem a eclosão de 'impérios' e a dominação de grupos periféricos 24 .
McLuhan, de facto, limita-se ou a citar lnnis, ou a propor uma deriva do seu mais conhecido e original aforismo, referindo, portanto, que o modelo das sociedades sempre foi mais influenciado pela natureza dos meios de comunicação do que pelo conteúdo da comunicação. Ele próprio, aliás, o reconhece quando em A Galáxia de Gutenberg diz taxativamente: 'Harold lnnis foi o primeiro a perceber que o processo de mudança estava implícito nas formas da tecnologia dos meios de comunicação. Este meu livro representa apenas notas de pé de página à sua obra, visando explicá-la' (1962: 82).
Um dos seus mais severos críticos, Jonathan Miller, via nessa máxima urna autêntica desculpabilização dos manipuladores dos meios de comunicação (e daí, dizia, uma das razões do sucesso de um 'improvisador brilhante') e, ainda, do público, que se via eximido de 'crime de autocomplacência': 'Espectadores inteligentes que só furtivamente ousavam contemplar a televisão, podem agora prender-se aos aparelhos, confiantes na crença de que, assim agindo, participam de uma comunidade nova de auto-interesse humano (...)' 25 .
Não deixa, no entanto, de ser importante ressalvar algo que em McLuhan não se refere tanto à interacção entre a tecnologia e o social, mas sobretudo às 'metamorfoses de sensibilidade' entre a tecnologia e o indivíduo: 'É a contínua adopção da nossa tecnologia no uso diário que fazemos dela que nos coloca no papel de Narciso, de consciência subliminar, e adormecido em relação às imagens de nós próprios. Incorporando continuamente tecnologias, relacionamo-nos a elas como servomecanismos (1964: 64). Daí, por exemplo, ele ver o humano também como uma espécie de prótese dos media, peça elementar na reprodutibilidade do próprio sistema mediático.
Para além destes 'determinismos' da técnica que marcam de facto o seu pensamento, McLuhan pouco adianta relativamente a lnnis no que concerne à crítica da sociedade mediatizada. Como assinalou Daniel Czytrom 26 , o que em lnnis eram críticas severas quanto ao rumo que tomavam as novas tecnologias da comunicação transformaram-se em McLuhan numa espécie de 'celebração do inevitável'. Assim, a questão da 'retribalização', da 'aldeia global', dando a ideia de um ganho óbvio na recomposição do dispositivo comunicacional moderno, tendo por consequência a "implosão" dos media o próprio fim da especialização: «L'état de catalepsie dans lequel Ia technologie de I'Imprimerie a plongé I'Occident a duré jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire en ce moment où, grâce aux médias électroniques, nous commençons, enfin à être 'déshypnotisés'» (1977: 46).
A nova galáxia Marconi coloca assim em questão uma regressão da ordem visual: 'L'emploi des media éléctroniques constitue une frontière marquant le clivage entre l'homme fragmenté de Gutenberg et l'homme intégral tout comme l'alphabétisation phonétique a marqué le passage de l'homme tribal, centré sur Ia connaissance oral, à l'homme conditionné par Ia perception visuelle' (1977:47).
Mas apesar de considerar os media electrónicos como o fim de um ciclo 'cataléptico', McLuhan não deixa de prever que o choque entre a cultura antiga, fraccionada e visual, e a cultura nova, integral e electrónica, provoca um eclipse do eu, uma crise de identidade, que pode resultar em violência desmedida e numa procura de identidade que pode revestir formas pessoais ou colectivas (1977: 55). No limite, tratar-se-á da desintegração dos grandes Estados dando lugar às 'aglomerações de tribos', de mini-Estados, o que não deixa de estar em contradição com a tese 'inclusiva' de um mundo simultâneo e imediato, onde tudo estaria em harmonia, como se se tratasse de um campo magnético, ou de toda uma família humana tecida de uma só membrana, a nova sociedade fechada.
Esta e outras contradições, ou 'boutades', como por exemplo. a de que a fotocópia conduz ao desaparecimento do livro 27 , ou a de que a televisão é um 'meio frio' por ter apenas 625 linhas de definição de imagem, ou o de que o verdadeiro factor de integração dos negros no Sul dos Estados-Unidos foi o automóvel, entre muitas outras, não ensombram no entanto a importância da sua obra nesta segunda metade do século. Será certamente difícil omitir o seu nome numa genealogia do saber e das conflitualidades entre os media e o mundo, a tecnologia e o indivíduo. No fundo, todas as suas recomendações poderiam sintetizar-se neste quadro: estudar os media a fim de extirpar ao subliminal, ao não-verbal todas as hipotéticas afirmações, a fim de passar ao crivo, de prever e controlar os objectivos da humanidade.
A finalizar, e em jeito de post-scriptum, poder-se-ia perguntar: E agora, McLuhan? Se a televisão, essa 'grande escola', essa 'universidade do ar' (Miller) é por excelência o 'instrumento da comunicação recíproca' (1977: 50); se vai introduzir novos feedbacks e conduzir a comunicação a tornar-se diálogo em vez de monólogo (1977: 57); se foi ela que pôs fim à guerra do Vietname 28, se com ela Hitler não tinha passado de um sargento-pintor; então, explica-nos, McLuhan, por favor, porque é que disseste uma vez que, se interrompêssemos as emissões de televisão por uns anos, os resultados seriam certamente benéficos? 29 . Há quem concorde cada vez mais contigo, sabes?
Notas:
1 Jakobson, Roman, "Le langage commun des linguistiques et des antropologues", Essais de Linguistique Générale, Vol. I, Les Éditions de Minuit, Paris, 1963.
2 Op. cit., "L'aspect phonologique et l'aspect grammatical du langage dans leurs interrelations", texto apresentado pela primeira vez por R. J. no sexto Congresso Internacional dos Linguistas (Paris, 1948).
3 Cf. o seu artigo "The Structure ans Functions of Communication in Society", The Communications of Ideas, Lyman Bryson , Harper, New York, 1948.
4 Shannon e Weaver, "The Mathematical Theory of Communication", Bell System Technical Journal, 1948.
5 CLOUTIER, Jean, A Era do Emerec, ITE, Lisboa, s/d.
6 Jakobson, op. cit.
7 Publicado pela primeira vez em 1961 - cf. Essais de Linguistique Générale, op. cit.
8 Cf. "Linguistique et Théorie de la Communication", Jakobson, op. cit.
9 Referimo-nos aqui concretamente à sua obra The Process and Effects of Mass Communications, co-editada com Donald F. Roberts, UIP, Illinois, 1954.
10 Morin, Edgar, L'Esprit du Temps, Essai sur la culture de masse, Éditions Bernard Grasset, Paris, 1962.
11 Schaeffer, Pierre, Les Machines à Communiquer, Éditions du Seuil, I e II, Paris, 1972.
12 Moles, Abraham, Sociodynamique de la Culture, Éditions la Haye, Paris, 1967.
13 Cf. "Nouveaux courants dans l'étude des communications de masse", Essais sur les mass-media et la culture, Unesco, 1971.
14 Jakobson, Roman, "Linguistique et poétique", Essais (...) op. cit., chapitre XI.
15 Eco, Umberto, "Introdução" a A Indústria da Cultura, Edição Meridiano, Lisboa, Outubro de 1981.
16 Morin, "Receptores Selectivos", citado na antologia Comunicação Social e Jornalismo, Regra do Jogo, 1981.
17 Morin, "Nouveaux courants dans l'étude de la communication de masse", op. cit.
18 Arlen, Michel J. "Marshall McLuhan and the Technological Embrace", Living Room War, The Viking Press, NY, 1969.
19 Cf. o artigo de J. M. Paquete de Oliveira "Marshall McLuhan, Profeta ou Impostor?", Expresso, 10 de Janeiro de 1981.
20 Harold Adams lnnis, importante historiador económico canadiano (1894-1952), discípulo de Veblen, autor, nomeadamente de Empire and Communication (1950), The Bias ot Communication (1951) e Changing Concepts of Time (1952), ed. University of Toronto Press.
21 Rosenberg, Harold, cf. 'Pour comprendre McLuhan' Pour ou Contre McLuhan, sob dir. de G. E. Stearn, Seuil, Paris, 1969.
22 Op. cit., Dialogue, G.E.Stearn-McLuhan, p. 287.
23 Explorations, revista trimestral de estudos sobre cultura e comunicação. Foram apenas publicados sete números, entre 1953 e 1957. Edição da Fundação Ford.
24 Miller, Jonathan, McLuhan, Cultrix, São Paulo, 1982, p. 14.
25 Heyer, Paul, "Pour une histoire des communications: quelques parallèles et contrastes entre Michel Foucault et la filière canadienne", Communication, Information, Vol. V, nº 2/3, 1983, pp.247-264.
26 Czytrom, Daniel, "Metahistory, mythology and the media: the american thought of Harold Innis and Marshall McLuhan", Theorists of modern communication, New York, pp. 147-182.
27 McLuhan, Marshall, "Xérox, simulacre et mort du livre", Les Imaginaires, UGE, Col. 10-18, Paris, 1972.
28 Pour ou contre McLuhan, pp. 267-8.
29 Idem, p. 293.