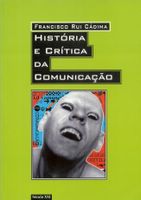Miragens Digitais (*)
Estas algumas das questões prévias que se poderiam colocar quando o tema em debate se refere à chamada democracia electrónica. Daí que a disseminação do acesso ao digital possa não significar o alargamento do conceito de participação e a sua consecução efectiva, mas apenas uma nova forma de aceder a velhos modos de discriminação e de dominação.
Assim, antes de abordar mais em concreto os tópicos desenvolvidos por William Dutton, procurarei enunciar de forma sintética algumas preocupações centradas em torno das miragens do digital.
I. Telerealidades: o que se perde, o que se esquece
Telerealidade, memória, esquecimento são alguns dos parâmetros centrais do dispositivo comunicacional clássico e «pós-clássico». Tal como, aliás, a sua instrumentalidade, o seu regime logotécnico e a sua performatividade, o seu «fazer» ao dizer.
No campo dos media clássicos, as duas últimas dédadas do século foram marcadas pela fragmentação dos grandes sistemas comunicacionais, o que determinou, de facto, o fim da inscrição dos consensos como forma de agenciamento específico, designadamente da máquina televisiva monopolista, produtora de identidades, ela própria palimpsesto neutralizador, dispositivo abstracto de enunciação. Mais do que uma interacção entre usos e gratificações, suceder-lhe-ia uma lógica de indiferença que deriva da virtual multiplicidade das escolhas centradas nos novos gadgets comunicacionais de final de século.
No âmbito das discursividades, quer se trate da recomposição ou da fragmentação do real, no écran televisivo redimensiona-se o tempo e o espaço, sendo improvável a possibilidades de contemplarmos uma imagem. É afinal o fluxo de imagens que nos «contempla». É este excesso que neutraliza também as condições de possibilidade do exercício arqueológico da memória. O esquecimento é imposto por esse excesso, por esse fluxo desordenado que torna impossível restituir a continuidade perdida da experiência ou tão somente de uma história narrada. Trata-se em síntese de um fenómeno de indiferença resultante da errância de que a um outro nível a contaminação do discurso por formatos e géneros constitui o paradigma central. Donde, o paradoxo da crise dos consensos, que, no limite, alterna entre uma lógica de indiferença e uma lógica normativa. No fundo, o que poderia ser um extraordinário meio de democracia directa pode converter-se de facto em instrumento de opressão simbólica.
Uma outra normatividade prende-se com a lógica da telerealidade que reconfigura a natureza dos media, concedendo-lhes a dimensão hiperreal de que fala Paul Virilio. A televisão molda o acontecimento ao seu dispositivo, adequa-o ao seu regime tecnodiscursivo, cuja finalidade, ao contrário da experiência do «directo», é deixar aparecer o que de seguida se esquece. Deparamo-nos assim de novo com o diferendo: deter a história, possuir a prova, mas não conseguir superar o facto de o homem se constituir por uma faculdade activa do esquecimento, como dizia Nietzsche, por uma espécie de recalcamento da memória biológica, entregando-se aos sistemas da crueldade, aos inventários domesticadores, emergindo estes como traços inelutáveis da contemporaneidade. Um campo de espectros, em processo de reconversão digital: a política é fundada sobre o esquecimento, o que permite todas as reescritas da história e a emergência de novos ciclos de reapropriações. Como tenho referido, o esquecimento gera então o monstro e nessa denegação do acontecimento, novos holocaustos aguardam a sua hipertelia.
II. Da arte dos pequenos passos
Não muito antes da Internet, ao princípio, era o verbo. A grande cesura situava-se então no plano dos signos e dos códigos convencionais. Para Platão, como se sabe, a escrita não era mais do que um simulacro do real. A escrita surgia assim como fim da techne. Os hard media a tanto obrigavam. Essa delegação do saber na escrita era assim uma perca do sujeito, e evoluia para uma mnemotécnica que desabituava do «esforço interior», e criava um saber não reflexivo como nas sociedades de cultura oral. O arbítrio do déspota tinha agora que enfrentar não a sobrecodificação mas o fluxo desterritorializado de escrita e doravante a dominação far-se-ia cada vez mais no espaço e já não no tempo. Assistiu-se então ao predomínio da técnica autoritária sobre a techne, sobre a técnica democrática, também à legitimação do discurso segundo a performatividade dos seus enunciados. E à revisão da história num mundo de narrativas, de tecno-imaginários, sendo a transparência da comunicação uma espécie de novo cárcere.
As fábricas de sonhos - dos imaginários à política e aos media -, tornam-se num admirável mundo, numa realidade modelizada e hiperreal que se configura sobretudo como dispositivo comunicacional totalizante. Esse ruído, essa sobreinformação, é, no fundo, uma crise de solidariedade entre o sentido e a experiência.
Da techne perdida chegou-se ao messianismo científico-tecnológico que por sua vez arrasta consigo os novos mensageiros de práticas minimalistas, singulares, locais, centradas sobre o homem e os seus contextos. No domínio essencial da comunicação do que se trata é então de libertar as sujectividades e a experiência do «local», centrada agora nos novos poderes dos fluxos à escala do homem, não como terminal, mas como nómada.
III. Da ordem interactiva simulacral
Eis-nos então chegados à ordem interactiva, mirífica salvação dos deserdados do ciberespaço. Importa aqui pensar se a interactividade se fica apenas no seu registo técnico, saber se ela não será mais do que a metáfora da sociedade da abundância tecnológica tornando-se a miragem da sociedade das proezas tecno-sociais, como referia Manuel Castells.
Entramos assim na era do transpolítico, das sombras do tempo que caminham mais rápido que os seus próprios passos. Numa modernidade que se recompõe por adições complexas: o movimento mais a incerteza. Ou por oposições definitivas: o mundo da vida mais o sistema da eficácia. De onde resultam as crises do paradigma do progresso, as passagens da finalidade à hipertelia; dos equilíbrios orgânicos aos seus clones; dos (des)equilíbrios pelo terror; da legitimação pela representação ou pelo êxtase do real.
Nesta violenta mutação joga-se uma ruptura dramática no dispositivo comunicacional e nesse aspecto o controlo do virtual é decisivo para que a nova telépolis não fique exposta aos olhares da insondável totalização e às suas maquinações.
Os novos media preparam, no fundo, uma outra convergência - a dos neurónios com os chips, procurando exorcizar de certa maneira as fobias bio-tecnológicas. Na era do mundo de possíveis que a tecnologia disponibiliza, o inumano pode ser a modelização, a clonagem. Mas o facto é que onde está o perigo está aquilo que liberta.
De qualquer forma, a crise do paradigma do progresso, as excrescências de uma modernidade continuadamente em crise - das limpezas étnicas às mortes «limpas» -, enfim, as obscenidades e o êxtase verificados pelas hipertelias do que está para além da ordem natural das coisas, são parâmetros a levar em conta no novo dispositivo comunicacional e societal. Através deles verifica-se de algum modo a colonização do mundo da vida, do lebenswelt, pelo sistema da eficácia e por um regime simbólico que é de algum modo apocalíptico, embora numa dimensão não antropológica - a elisão do corpo (da experiência) pelo sujeito estatístico, ou pelos seus algoritmos. A própria legitimação do político emerge a partir do «outro», pela representação e pelo desempenho mediático. Estamos, portanto, perante diferentes crises antropológicas - de legitimação dos saberes, da representação, e do social.
Mas perante os perigos da interactividade técnica, ou perante os mitos da «cibernação» e das naturais miragens do digital, há uma realidade que permanece como espécie de vírus: a empatia pelos fluxos, pelas logotécnicas televisivas, pela gratuitidade da desagregação brutal do tempo nas reduzidas dimensões de um qualquer pequeno écrã, ou de uma qualquer entidade terminal, denotando ainda essa irreconciliável tensão entre tecnociência e singularidades.
.
IV. Da exclusão na acessibilidade
Finalmente, o «défice social», ou seja, uma certa secundarização da questão da «alteridade», dos «outros» no processo de radicação das infotecnologias, não só em relação à oposição «local» versus «global», mas também no que concerne a formas mais violentas de exclusão, isto é, em relação aos sectores mais vulneráveis da sociedade.
Uma SI e um transpolítico indiferente às margens que eventualmente pode criar, no sentido em que essa miragem, essas proezas da técnica, esse mirífico «ciberespaço», mais do que um espaço virtual de poder absolutamente aberto, ou mais do que uma «tirania da telepresença» (numa leitura essencialmente crítica), pode configurar um novo cárcere, uma nova exclusão, a mais dramática das exclusões da era pós-industrial.
Prefigura-se, nessa medida, um quadro de desenvolvimento infocomunicacional que deverá ter como objectivo estratégico o investimento nas diferentes periferias, conduzindo a uma progressiva superação das margens, fazendo emergir os «localismos» - e o homem - à dignidade da sociedade global, combatendo todas as formas de «info-exclusão» e ainda o mito da interactividade técnica como modelo societal e de cidadania.
Sociedade de Informação, portanto. Convirá talvez ver, finalmente, como tem vindo a ganhar corpo a caracterização da Sociedade de Informação. Em meados da década de 90, de acordo com deliberações tomadas no G7, a transição para a SI deveria contemplar, nomeadamente: a interacção global das redes de banda larga; a formação e educação transculturais; o apoio a bibliotecas, museus e galerias de arte electrónicas; a gestão do ambiente, dos recursos naturais, da saúde; a interligação entre administrações públicas; a execução de um inventário global multimedia sobre projectos e estudos para a promoção e desenvolvimento da Sociedade Global de Informação.
Da mesma maneira, pode ler-se nas propostas do Fórum Europeu para a Sociedade da Informação: permitir que a SI se transforme numa sociedade educativa ao longo de toda a vida; combater a exclusão na SI; modernizar a prestação electrónica dos serviços públicos; envolver os cidadãos na revitalização da democracia; desenvolver acções de consciencialização do grande público sobre a SI; estimular o crescimento dos mercados para novos serviços interactivos e para o multimedia; aproximar empresas e escolas para colaborar na produção de novas campanhas exigíveis pela SI; e, last but not the least, fomentar a emergência de uma segunda Renascença com base na SI, com relevo para o estímulo da criatividade, da descoberta científica, do desenvolvimento cultural e da coesão comunitária. Desenhar um futuro de criação de emprego e de desenvolvimento sustentável.
Seguindo este discurso apologético, alguns anos depois da sua enunciação, vê-se agora o seu vazio de conteúdo. Tratar-se-ia, porventura, de um novo paradigma comunicacional e experiencial, caracterizado por um modelo que pode democratizar efectivamente os meios e as mensagens, dando a cada cidadão a capacidade de ultrapassar a sua condição limitada de consumidor ou de espectador e passar a ser um destinador, um sujeito operativo, reflexivo, participativo.
Com todos os desafios que daí decorrem, o primeiro deles não será o menos saliente e provavelmente o mais problemático: a nova era comunicacional vai certamente não só radicalizar as distâncias entre os inforicos e os infopobres, como vai também fazer novos analfabetos, os novos iliteratos da era digital. O novo campo de mediação repõe de uma nova forma a questão da dominação e do político, e evidencia novas microfísicas de poder disseminadas parcialmente pelo corpo social mas geridas sobretudo pelo poder das redes e dos fluxos.
São questões que devem ser ponderadas, justamente, em função de um modelo participado e aberto no plano da experiência, e designadamente da experiência do «outro» e das periferias, como alternativa ao modelo da «massificação» na era clássica do campo dos media, mas também, como advertência às eventuais hipertelias que a sociedade da informação deixa antever em tudo o que se refere a um outro vector da «massificação» - precisamente o que tem a ver com o consumo reduzindo as subjectividades à lógica «comercial» da globalização.
Há que ver que se a economia da sociedade da informação é global, os indivíduos continuam a ser «locais», o que significa que existe de facto um abismo entre a globalidade da riqueza e do poder e a experiência local. A Net é um espaço virtual de poder que terá uma participação activa na evolução das sociedades representativas para as sociedades solidárias e participativas. Nessa medida, a Internet é a rede vital, estratégica, mas a questão aqui está em saber como se domina o novo alfabeto quando o velho código convencional de escrita continua inacessível à maioria dos portugueses atingidos por essa realidade dramática chamada analfabetismo e iliteracia.
V. Uma possível síntese: do poder dos fluxos aos fluxos de poder
Centrando-nos finalmente mais em particular na comunicação de William Dutton e na reflexão feita em torno das questões aqui levantadas de forma aleatória e a partir de diferentes enfoques, deve reconhecer-se que tendencial e progressivamente a democracia electrónica pode constituir um factor de reforço dos fluxos de poder face ao poder dos fluxos. Isto é, de reforço da autonomia do cidadão no quadro de uma experiência democrática mais participada.
Uma das questões centrais nesta evolução é a acessibilidade, que em determinados aspectos, e em particular no campo das redes, pode ser vista no quadro da manutenção de um «serviço universal», que a prazo poderá ser ainda de complementaridades entre redes, a que os cidadãos têm direito - assim estejam criadas as condições para a facilidade no acesso à informação, aos conteúdos culturais, aos arquivos, enfim, às redes.
Na esfera politico-partidária, os guias electrónicos dirigidos ao eleitor podem trazer uma maior transparência à actividade política, uma presença constante dos protagonistas e ainda mais informação. Neste âmbito, e apesar dos riscos, a Net pode ser um forte potenciador de uma experiência política mais participada, mais partilhada. Da mesma forma, a Net pode potenciar a interacção social e a partilha de solidariedades. Deram-se alguns exemplos: a campanha Stop the Overlay em Los Angeles e a campanha Por Timor, no final de 1999, em Portugal.
De um ponto de vista teórico, os media interactivos sucedem aos media clássicos repondo algo que estava perdido: justamente, a bidireccionalidade, isto é, o fim do «escutar sem ser escutado». E essa é uma revolução civilizacional que só encontra correspondência na introdução do alfabeto na História (o mesmo é dizer, na introdução do Estado, do mercado, etc.). O que significa que a nova era digital será mais fortemente comunitária e menos primitiva… Isto, claro, desde que esteja garantido o essencial, ou seja, o controlo do virtual por parte do cidadão. Essa é, afinal, a questão das questões. Mas tal como nos outros casos referidos, também aqui onde está o perigo está aquilo que salva. Isto é, onde estão as bases de dados pessoais, onde está a colisão com a privacidade, estará, queremos crer, também o seu controlo. Como projecto mais geral fica a ideia da necessidade de recentrar a questão da interactividade na cidadania e no acesso, já que centrada está ela demasiado na economia. Daí, de facto, que a disseminação do acesso ao digital possa não significar o alargamento do conceito de participação e a sua consecução efectiva, mas apenas uma nova forma de aceder a velhos modos de discriminação. Como diz Bragança de Miranda, as teses da globalização são uma pálida imagem do que está em falta: a possibilidade de um universal humano que se realiza politicamente. Ou como Esther Dyson referiu, aliás, o impacto da Net, através das possibilidades infinitas da comunicação electrónica bidireccional transformará radicalmente as nossas vidas: absorverá o poder dos governos centrais, dos meios de comunicação e das grandes empresas. Pelo contrário, uma visão menos céptica deste desenvolvimento permite acreditar na continuação da afirmação da opinião pública no campo social na modernidade, agora já não em termos de espaço público, mas em termos de ciberespaço. O que pode também significar uma progressiva autonomização do cidadão e uma consolidação de novos processos democráticos, mais participados, mais partilhados, mais solidários.
Na Net - e nas redes e nos sistemas de informação -, deverá também permanecer uma nova memória, cada vez menos feita de esquecimentos. Há embora a notar que se o grande arquivo digital pode ser a carta que precede o território, a verdade é que a informação facilmente passará de uma presença virtual a uma não-presença, emergindo assim uma nova censura, não já a da raridade dos textos, mas antes a da obsolescência da informação.
A interposição de uma logotécnica biunívoca e multimodal neste novo sistema potencia, por assim dizer, as suas virtualidades de forma exponencial. A aparente limitação, ou mesmo subordinação, do mundo de possíveis da poiética cinematográfica - ou das videoplastias - à lógica algorítmica, é reconvertida na sua própria disponibilidade em tempo real. O «esquecimento» torna-se memória e, virtualmente, todos acederemos, de forma descontinuada aos interstícios dos saberes. Que será, no fundo, o repositório global da informação, do saber, da arte e da ficção, isto é, o património fundamental do conhecimento.
Por outro lado, a lógica hipertextual, as contínuas recorrências e navegações, podem configurar porventura a contextualização e a organização de uma realidade, mas dificilmente deixarão submeter à ordem da técnica a lógica do utilizador. Poder-se-ia inclusivamente prever que a iconicidade dos novos sistemas multimedia reenviam para ideografismos que repõem o excesso de objecto que a sobrecodificação veio reprimir. As novas navegações interactivas serão, assim, nesta visão porventura idílica, uma nova libertação face à lógica unívoca do sistema mass-mediático predominante neste século XX. Doravante não fará, por isso, muito sentido, pensar as linguagens clássicas, mass-mediáticas, enquanto sistema estratégico de narratividades específicas. Essa impossibilidade remete, aliás, para a identificação dos próprios limites desses mesmos processos narrativos clássicos. O novo complexo multimedia interactivo configura-se numa nova discursividade, na qual, ao contrário dos sistemas clássicos, cada um de nós terá a sua própria expressividade. Pensar as novas linguagens e técnicas do multimedia, hoje, requer de facto uma reflexão sobre as práticas, estratégias e tecnologias do novo campo comunicacional, já não apenas enquanto sistema repartido entre grandes famílias mediáticas, concentrando meios, uniformizando fluxos, instituindo novas legitimidades, mas enquanto abismo desse modelo. Como referia Virilio, o ciberespaço pode ser não uma evolução da democracia mas antes uma tirania vigilante clássica, mas não duvidemos é que há, como se viu, novas experiências participativas pela construção de uma democracia electrónica, certos, sempre, de que onde está aquilo que liberta está também o perigo que espreita.
Referências bibliográficas
BARRETT, Neil, The State of the Cibernation - Cultural, Political and Economic
Implications of the Internet, London, Kogan Page, 1997.
CÁDIMA, F. Rui, Desafios dos Novos Media, Lisboa, Editorial
Notícias,1999.
-, História e Crítica da Comunicação, Lisboa, Vega, 1997.
CARDOSO, Gustavo, «As causas das questões ou o Estado à beira da
Sociedade de Informação» Sociologia, Lisboa, CIES/CELTA, nº 30, Novembro de 1999.
CASTELLS, Manuel, La Era de la Información - Economia, Sociedad, Cultura,
Alianza Editorial, Madrid,1998.
DUTTON, William, H., Society on the Line. Information Politics in the Digital,
Oxford University Press, 1999.
DYSON, Esther, Release 2.0, Barcelona, Ediciones B, 1997.
MIRANDA, José Bragança de, «Ilusão Arcaica», Le Monde Diplomatique, ed.
portuguesa, 14/7/1999.
-, «O Controlo do Virtual» Tendências XXI, nº2, Lisboa, APDC,
Setembro de 1997.
NOELLE-NEUMANN, Elisabeth, La Espiral del Silencio. Opinión pública:
nuestra piel social, Barcelona, Paidós Comunicación, 1995.
PRADO, Emili e FRANQUET, Rosa, «Convergencia digital en el paraiso
tecnológico: claroscuros de una revolución», Zer - Revista de Estudios
de Comunicación, FCSC, Bilbao, Mayo de 1998.
PROULX, Serge e SÉNÉCAL, Michel, «Interactividade técnica - simulacro de
interacção e de democracia?», Tendências XXI, nº2, Lisboa, APDC,
Setembro de 1997.
VIRILIO, Paul, Cybermonde, la politique du pire, Paris, Textuel, 1996.